Planos de visita à ilha de Harris com os primos reformados que vieram do Canadá. “Espero que esteja bom tempo…” dizia ela, receosa de que o passeio se transformasse numa granda banhada (literalmente); “e eu espero que ao menos lá tenham um bom pub…”, acrescentou o marido entre dentes, muito mais virado para o turismo copofónico do que propriamente para ver as vistas, mas afinal o dia acordou com um tempo invulgarmente porreiro, com sol e tudo, prova de que o São Pedro está do lado das primas canadianas, e lá fomos nós para Harris no jipe da Chrisella.
É uma ilha curiosa, primeiro que tudo porque não é uma ilha; decidiram que um riacho indecente é que faz a fronteira e pronto, e praticamente podemos pôr um pé em Lewis e outro em Harris, questão de abrir bem a perna e de ter cuidado para não escorregar nos calhaus molhados, e depois porque a paisagem, essa sim, uma divisão bem mais efectiva, é completamente diferente de Stornoway e arredores. Em vez de planícies cheias de turfa e ovelhinhas, aqui temos montes e vales e lagoas com monstros aquáticos e tudo, uma paisagem de serra onde as ovelhinhas têm de fazer muito exercício para chegar à erva, mas que para mim se revelou bestialmente relaxante. Nunca ouvi falar em síndroma das planícies nem do stress dos grandes horizontes, mas alguém já deve ter estudado alguma coisa sobre isto (e não falo de agorafobia – o pavor dos espaços abertos). Aqui há uns anos, era eu ainda chavaleca, passei uma semana no Ribatejo, em casa de uma amiga, e lembro-me que ao terceiro dia já estava capaz de morder. Por muito que até achasse que os campos cheios de vaquinhas e as plantações de arroz eram uma beleza, não deixava de ser tudo irritantemente plano. Nem uma lombazita, nem um montinho, nada que animasse a pasmaceira geográfica. Do meio da estrada conseguíamos ver o alcatrão por ali fora, todo direitinho até à linha do horizonte. E por muito bonita e verdinha que seja, é um facto, a planície contunde-me cá com o sistema. Daí que Harris tenha sido um descanso bestial para os estranhos macaquinhos que habitam o meu sótão – montanhas …aaaaah, que alívio.
A estradeca, só de uma via, é assim um vai acima vai abaixo e vira e torna a virar e lá vai outra e sobe e torna a descer, estrada de serra, pois claro, que nos levou hora e meia para fazer 15 milhas (!!!), embora todos achassem que, das duas uma, ou a história das 15 milhas é uma galga dos nativos para não assustarem os visitantes, ou então o gajo que lá pôs as placas andou a medir as distâncias com uma régua em cima do mapa – 15 milhas, só se for a direito. Mas eu cá não sei, não digo nada, que estava muito mais interessada na paisagem do que no conta-quilómetros (ou conta-milhas?) e nisto de medidas a olho eu sou uma perfeita nabiça.
A ideia era chegarmos a Rodel, mais exactamente à igreja de St. Clements, uma construção medieval dos séculos XIII ao XVI (reconstruções sucessivas) que eu já tinha visto no boneco mas agora queria ver ao vivo e a cores. Metemo-nos então pela “golden road” [estrada de ouro], assim chamada, não por ser muito boa, mas por ter custado uma fortuna a construir. Só tem uma via, mas percebe-se perfeitamente para onde foi a massa toda; para evitar tanto sobe e desce, foi preciso escavar passagens através da montanha, mas o que parece um monte de terra cheio de urze e ovelhinhas a pastar, não passa afinal de uma camadinha de turfa em cima de rocha maciça. Grande parte da estrada passa no meio de blocos compactos de pedra, partida à marretada para encurtar caminho.
St. Clements não é nenhum espanto para quem já viu muita igreja velha, mas vale sempre a pena, pelo sítio, pelo valor histórico, por ser praticamente a única construção da época ainda em bom estado (há outras por aí mas estão todas a cair), pelos túmulos lá dentro, etc etc etc, ok, pode ser isso tudo, mas a mim agradou-me especialmente pelo ambiente bestialmente gótico da coisa, e não falo só do gótico – estilo de arquitectura, mas sobretudo do gótico – estética mórbida. Uma igreja quase vazia, num cabeço longe da povoação, com o cemitério dos MacLeods de Harris cá fora, as lápides já meias tombadas, uma delas com instrumentos de tortura gravados, facas e tenazes em torno de uma caveira, corvos aos pulos na relva, e lá dentro, numa luz fraca de janelas ogivais, túmulos gastos com figuras jacentes de cavaleiros de armadura vestida, capacete incluído, a segurar as espadas, mais caveiras esculpidas, uma delas na mão do próprio St. Clements, por cima de um anjo e de um demónio que pesam as almas numa balança, sentados frente a frente, aparentemente em amena cavaqueira – “atão quantas almas vais tu levar hoje?” – enfim, um ambiente perfeito onde só falta aparecer o fantasma.
À falta de fantasma, apareceu um cão entusiasmadissimo, um Scottish Collie ( = Lassie a preto e branco), grande e gordo, que por escassez de fêmeas disponíveis nas redondezas, resolveu aliviar os calores contra as pernas dos turistas, dificultando-nos bastante a mobilidade e as fotografias; levar com um canzarrão em cima quando já temos finalmente o enquadramento perfeito para a fotografia, lixa logo o trabalhinho todo.
O túmulo mais ornamentado é o de um tal Alasdair Crotach, o oitavo chefe dos MacLeod de Dunvegan. Logo à entrada há outro semelhante, que pertence ao filho, o William MacLeod, também de espada e armadura, já que naqueles tempos os MacLeods passavam a vida à pêra com os MacDonalds (hoje são todos amigos), e ao fundo há um terceiro, do John of Minguish, seja lá ele quem tenha sido, que não consegui encontrar mais informação nenhuma.
No chão da igreja eram enterrados os porta-estandarte (não tem nada a ver com escolas de samba), sempre no mesmo sítio, em cima uns dos outros. O costume era estranho, mas tem a ver com a história do estandarte do clã, uma bandeira mágica conhecida como a “fairy flag” [bandeira das fadas], que protege os MacLeods todos até aos dias de hoje – durante a segunda guerra mundial, contam que muitos soldados do clã levaram fotografias do que resta da bandeira e que todos voltaram vivos e de saúde. O homem que transportava a bandeira, antes dela ser promovida a atracção de museu, de alguma maneira devia herdar também características mágicas, e daí este costume de guardarem os restos de todos eles no mesmo sítio; cada vez que morria um, abriam espaço entre os ossos dos anteriores e enfiavam o cadáver no meio (…ah sim, este sítio é mesmo bué da goth).
Praticamente só há uma estrada, pelo menos na zona em que Harris é quase uma ilha; pelo mapa, comecei por pensar que só aquele bocado é que contava, um torrão redondo ligado a Lewis por uma cinturinha de terra, mas afinal o nome muda muito antes, assim que as planícies acabam e as montanhas começam, no tal riacho de que já falei. Fomos por um lado e voltámos pelo outro, sempre a acompanhar costas recortadas de onde se vêem mais ilhas, Skye já aqui e as Highlands mais ao longe, Uist do outro lado, coisas que no mapa parecem distantes mas afinal, se berrarmos daqui com um megafone, estou convencida de que os indígenas das outras ilhas são bem capazes de ouvir.
Grandes praias e paisagens de muito calhau e pouca terra. De vestígios arqueológicos, sei que existem muitos mais, mas eu só vi ao longe uma pedra erguida, já um tanto inclinada, que a placa na estrada indicava como “a pedra do MacLeod” (Clach Mhic Leoid). Num terreno destes deve ser muito mais difícil encontrar um bom sítio para instalar um cromelech, como fizeram no norte, na ilha de Lewis; aqui o chão não é cavável e o espaço plano é muito curto. Mesmo hoje isto continua muito desabitado. Tirando Tarbert, uma povoação do tamanho de uma vila pequena onde o ferry aporta, o resto são só casas dispersas nos poucos terrenos mais ou menos planos que conseguiram encontrar. Provavelmente, o pessoal só cá vive pela pesca ou pela paisagem. Mesmo para cultivar umas batatinhas, deve ser uma trabalheira; duas cavadelas e poing!, entortam a enxada na rocha lá debaixo. Harris é uma ilha de pedra …ok, provavelmente nem tanto, mas a primeira impressão, pelo que se vê da estrada, é a de um grande calhau com meia dúzia de carolas que ateimam em cá viver.
O sítio é tão deserto que aqui há tempos usaram uma das ilhotas desabitadas, só calhaus, turfa e gaivotas, para fazer o programa do “sobreviventes”. Largaram lá uma série de desgraçados e agora desenrasquem-se. Mas hospitaleiros como são os ilhéus, não tardou muito e foram até lá de visita, com um barco cheio de cerveja e paparoca, prontos para fazerem uma grande farra com os concorrentes. Como as câmaras estavam por todo o lado, deram logo por eles e estragaram-lhes a festa. A partir daí tiveram de instalar patrulhas de militares à volta da ilhota, para os indígenas não poderem abastecer os esfomeados da televisão, mas mesmo assim consta que houve uns quantos furos ao bloqueio, fora as tentativas, porque conseguir chegar lá sem ser agarrado passou a ser um desafio a sério, bem mais estimulante do que assistir ao programa. Se os organizadores fossem mais espertos, tinham aproveitado para fazer o show dos fura-cerco, em vez de insitirem em mostrar um bando de chatos pagos para passarem fome em directo. Falta de olho pró negócio.
Enfim, atestados os olhinhos com estas paisagens acidentadas, vou agora tentar medir por quanto tempo me vai durar o alívio, para enfrentar as planícies da ilha de Lewis.



 Ao menos tens aí alguma coisa que se trinque?
Ao menos tens aí alguma coisa que se trinque?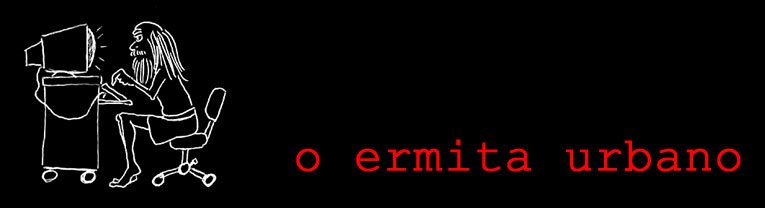





 De assinalar que está focada e bem enquadrada. O puto tem jeitinho, hem? Ah lindeza da madrinha!
De assinalar que está focada e bem enquadrada. O puto tem jeitinho, hem? Ah lindeza da madrinha!





































