Não sei se por culpa dos filmes americanos ou pela cara dos nossos emigrantes, eu imaginava Paris como uma espécie de cidade-circo habitada por uma fauna fervilhante de boémios, costureiros famosos e intelectuais de barbicha, dispersos por um cenário megalómano, todo de néons e brilhos. Com o passar do tempo foram mudando os meus gostos em matéria de cinema, ao mesmo tempo que se ia acentuando em mim uma espécie de desprezo passivo pela malta que vem passar o mês de Agosto à santa terrinha cheio de ganas de exibir aquela cultura toda que adquiriu lá fora (“Micheliiiii... viens já ici à mãe!”)
"Lá a vida é a cores, enquanto que aqui é a preto e branco", disse-me alguém já não sei quando. Ficou-me a curiosidade, mas nem por isso me deixei impressionar.
E agora aqui estou eu. Então Paris é isto. Rodo sobre os calcanhares a olhar em volta. É limpo. Arrumadinho. Nem uma poia de cão para animar o ambiente. O ar é leve, às vezes com nuances que lembram cheiro de champô.
Seis e coiso da manhã. O meu amigo já saiu para trabalhar. Engoli o pequeno almoço e vim para a rua cheio de vontade de ver onde estou. Cheguei ontem à noite e ainda nem percebi exactamente onde é que entrei, já um tanto zonzo com o meu anfitrião tagarela sempre a enumerar instruções sobre o funcionamento da cidade e o trato com os indígenas desde a estação até aqui. Nos próximos dias ele começa as férias e então terei um cicerone para fazer a voltinha da praxe pelos monumentos, os museus, as putas da zona do Pigalle e tudo o mais que constar no roteiro turístico.
Mas agora sou só eu, numa cidade que nunca vi, em voltinha de reconhecimento, completamente por minha conta.
Assim de repente, a rua parece estar asséptica como um hospital. Será então a qualidade da limpeza que faz os emigrantes chegarem lá a Portugal com ar de quem se foi meter no meio dos porcos depois de terem vivido num palácio? Só dos contentores do lixo é que vem um cheiro pestilento, mas não é do lixo, é o cheiro do desinfectante amarelo que uma brigada de agentes de desinfecção, também amarelos, vai pulverizando com umas maquinetas um tanto suspeitas, que mais parecem armas alienígenas. Vêm vestidos de plástico, com cógulas, luvas e galochas, tudo amarelo, ao melhor estilo espacialo-folcórico. A avaliar por toda aquela protecção, a bodega amarela deve ser altamente tóxica. Aperto o nariz e passo rapidamente adiante.
Continuo o meu passeio. Sinto-me um parolo com os olhos bestialmente abertos, ávidos, como se tivesse medo de deixar escapar algum pormenor. Não sei porquê, mas talvez por causa desta neblina da manhã, desta luz ainda pouco nítida ou deste cheiro artificial com que a cidade acorda, tenho a impressão de estar a caminhar por um grande cenário, onde o som dos meus passos ao longo da alameda é bem mais real do que as fachadas dos edifícios onde eles ressoam. As casas são todas iguais. Prédios forrados de tijoleira vermelha com frisos de pedra branca a debruar as janelas, onde até as cortinas estão penduradas da mesma maneira em todos os andares. Cortinas brancas presas dos lados como as das casinhas que os putos desenham. E depois, todo o ambiente é leve e claro, onde o cinzento dos passeios não pesa e no asfalto negro nem se repara, sobretudo quando se é turista, porque os turistas andam sempre de nariz no ar. Os prédios vermelhos parecem feitos com peças de encaixar. Tudo tem um ar de coisa a fingir, de jogo de construções feito por um miúdo maníaco da simetria. A alameda podia ter sido feita na véspera, armada às pressas só para eu lá poder passar hoje. Imagino que são apenas fachadas, que por trás estão todas seguras por tábuas toscas cravadas no chão. Habituado aos contrastes de Lisboa, tamanha uniformidade chocalha-me os sentidos e acentua-se mais a consciência de estar no estrangeiro. E isso agrada-me porque se trata já de uma pequena vitória sobre o meu lado fleumático.
No passeio central da alameda há banquinhos de jardim onde bandos de velhos jogam às cartas e tagarelam com palavras estranhas de um dialecto só deles. Velhos vestidos de preto, com boinas enterradas até às sobrancelhas, como as dos franceses castiços que falam inglês de sotaque arranhado nos filmes americanos do tempo da guerra.
Aqui e ali, canteiros de sardinheiras e grandes jarrões de metal verde. Os canteiros são tão altos que quase me chegam à cintura. Segundo a explicação do meu amigo, quando vínhamos da estação na noite passada, é para as flores ficarem protegidas dos cães. E com efeito, cães é coisa que não falta por aqui. Caniches, sobretudo caniches, caniches de todas as cores e de todos os tamanhos, dos anões aos matulões, caniches tosquiados e caniches peludos, caniches ao natural e caniches de verniz nas unhas e laçarotes na cabeça, caneco, que nunca vi tanto caniche junto. E a estas horas matinais do pré-expediente, o pessoal que anda pela rua divide-se entre os fulanos em fato de treino que praticam o seu jogging e os fulanos de trela na mão que praticam o footing do caniche. Alguns juntam os dois exercícios e correm com o cão atrás, que os segue em passinhos curtos, saltitante, com as orelhas a bater. Mas apesar desta canzoada toda, reforça-se a minha ideia de que esta cidade é anti-cão.
Nos passeios, limpos e sem frestas, nem uma erva raquítica se atreve a despontar. Os canteiros, demasiado altos, também deixam tudo o que é verde fora do alcance do nariz de qualquer cão. Nada passível de ser tasquinhado. No fim da alameda há um jardim, mas mesmo esse está vedado. Na cancela há uma placa com a silhueta de um cão cortada por um xis a vermelho. Quer isto dizer que nem aí lhes dão hipótese de cheirarem árvores e terra. Penso no que será a vida desses cães de apartamento, que nunca esgravatam o chão, que nunca metem o dente numa coisa verde e viçosa, que nunca correm atrás dos pombos, que nem licença têm para farejar os outros – o último que tentou ia sendo estrafegado pela dona ali na outra esquina. Instinto censurado por trelas curtas e tensas, condenados a uma castração olfactiva. Uma vida de cão. Arrepio-me.
Mas logo a seguir lembro-me que me ensinaram no liceu que os franceses gostam de passear aos fins de semana, como qualquer europeu com semana inglesa (já que não faço a mínima ideia de quando é que os outros passeiam). O tal do Bois de Boulogne, pois claro, fartavam-se de falar nisso... E penso então que com certeza estes cães acompanharão os donos nesses passeios pelo meio das árvores. E que mesmo aqueles caniches impecáveis, de pêlo escovado e coleiras de strass irão rebolar na relva molhada, alçar a pata onde bem entenderem, com a satisfação funda de quem se vinga das mijas acanhadas na berma do passeio, encontrar outros e encher o nariz de cheiro a cão, chapinhar nas poças de água, correr feitos doidos, só por correr, só para sentir o corpo a funcionar como um corpo de cão. Ah sim, só esses fins de semana podem justificar aquela fleuma com que os caniches pisam o chão quando acompanham os donos naqueles passinhos miúdos e saltaricos, indiferentes a tudo. Só isso explica que suportem estoicamente aquelas tosquias atrozes, a comida enlatada, os dois passeios diários do regulamento. É que eles esperam pacientemente o fim de semana.
Deixando para trás o jardim do bairro-dormitório, encontro a zona das lojas. Aí estão elas, as primeiras montras cá do sítio. Saco do bolso a arma imprescindível para a defesa de qualquer turista com um nível de vida como o meu: a calculadora. Passo à acção. Vou fazendo o câmbio dos preços sempre a tentar manter o sangue frio, ainda que de vez em quando tenha de repetir as contas para ter mesmo a certeza de que não me enganei nem nada. Para não entrar em pânico, lembro-me que estou aqui de passagem e que, tirando a questão de ter de comer todos os dias, não vou precisar de comprar nada extra (claro que a esta altura já desisti dos souvenirs para a família). Respiro fundo e guardo a maquineta, ainda um tanto zonzinho das ideias. Mas afinal, como é que raio um português consegue sobreviver num sítio destes? ...A despejar o lixo dos franceses, evidentemente.
Pessoas, movimento, trânsito de cidade grande, gente que faz as compras para o almoço ainda distante. Passa uma senhora anafada com uma baguette (= carcaça muito comprida de casca dura e pouco miolo) debaixo do braço e fico meio hipnotizado, a segui-la com os olhos, talvez à espera de ver aparecer uma equipa de filmagens cheia de camones a ruminar pastilha elástica. Mas não, a senhora anafada vira a esquina e vai à vida dela sem perceber as minhas observações (e ainda bem, que ainda me arriscava a levar com uma baguette nas ventas). Então era mesmo verdade. Este pessoal não embrulha o pão. E eu que sempre pensei que isso era coisa da era pré-plástica, que já só aparecia nas caricaturas. "Mas porquê?", perguntei eu mais tarde ao meu amigo francês, já de regresso ao apartamento. "Como é que querias que fosse?", admira-se ele, com os olhinhos arremelgadinhos, como quem nunca pensou que pudesse ser de outra maneira. Lembro-lhe a existência dos sacos de plástico. “Sabe-se lá onde é que já andou o saco de plástico...”, diz-me o gajo a torcer o nariz num arzinho superior. Portanto, a bem da higiene, põem um papelinho pardo a enrolar o meio do cacete, só para agarrar, e deixam o resto de fora, que é para impregnar bem a fumarada dos escapes... E como farão se estiver a chover? Debaixo do braço, a ponta da baguette deve ultrapassar o chapéu de chuva... Não chego a aprofundar a questão. Já percebi que é melhor não fazer demasiadas perguntas sobre os costumes locais. São coisas que se explicam só por existirem. São, porque são, e ninguém pensa mais nisso.
Acima de nós, os placards. Retratos enormes, propaganda de eleições breves para a administração do bairro de Clichy. Os candidatos têm todos um ar muito simpático, de quem toma banho todos os dias, e sorriem para os eleitores com dentinhos de publicidade. Sim, têm realmente um ar de gajos porreiros. Mas até aposto que nenhum deles se atreveria a fazer concessões a favor dos cães deste bairro (até porque os cães não votam).
Dou-me conta de que é melhor não ir mais longe sem mapa e resolvo reconstituir o caminho todo que fiz até aqui, de volta ao mini-apartamento do meu amigo. Mas então e quanto às cores de que não-sei-quem falava? Bom, tomando-as à letra, noto que os franceses se vestem geralmente com tons claros, que têm uma pele cor-de-rosa pálido, coisa própria de quem nunca viu sol a sério, e que a percentagem de louros é maior do que em Portugal. Mas os nativos são só uns tantos, a que nem me atrevo a chamar a maioria. Pela rua ouço falar italiano, português, diversas variantes africanas e outras línguas indecifráveis, talvez dialectos árabes. Cruzo-me com mulheres que vestem túnicas e mantos que lhes encobrem o cabelo todo até à raiz. Na testa, no queixo e nas mãos trazem tatuagens toscas, traços e pontos azuis bastante esborratados pelo tempo ou pela falta de perícia. Se houver aqui turistas como eu, acho que não os consigo identificar (a não ser que seja uma excursão de japoneses de câmaras em riste, claro).
Retomo as ruas por onde passei, de volta a casa do meu amigo francês que teve a amabilidade de me convidar a vir passar uns dias com ele. Acho que ainda não será desta que vou ficar a saber o que é uma "vida a cores", mas é muito cedo para tirar conclusões. Ainda não passei das primeiras impressões numa manhã em Paris. Cheguei aqui ontem e ainda não vi nada. Mas é claro que antes de cá vir eu já sabia, como toda a gente, que não são as cidades que tornam a vida mais colorida; somos nós mesmos que lhe damos as tonalidades, seja em que lugar for.
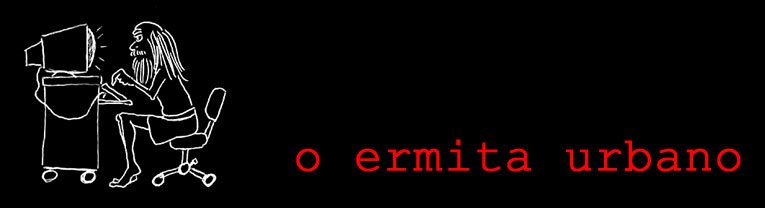
Sem comentários:
Enviar um comentário