| Eu caída de paraquedas no concerto de um tal Mick Flavin, um irlandês muito alto com um vozeirão de baixo que chega pra sete, quanto mais pra uma salita pequena como esta da Legion (Royal British Legion). Ao vivo não é tão canastrão como nos cartazes que andaram a espalhar pelas montras, mas quando o vi aparecer no palco com um colete de cetim preto bordado a lantejoulas douradas, com um cavalinho de um lado e uma ferradura do outro, temi bastante pelo serão. Mas a seguir o homem abriu as goelas e então percebi que, quando se tem uma voz assim, até se lhe perdoam as lantejoulas. Também podia ter aparecido de boné, jardineira e enxada ao ombro, que a fatiota torna-se irrelevante em menos de nada. Aleluia. E afinal eu até gosto de música country, não assim em dose maciça, é um facto, que duas horas disto é de empanturrar, até porque ao fim de três ou quatro cantigas já não se conseguem distinguir umas das outras – soa tudo ao mesmo – mas o pessoal está entusiasmadíssimo com o irlandês das latejoulas. Por aqui, na rádio, nos CDs que trazem para o serviço e nas cassetes que põem no carro, ou tocam música gaélica ou country. É evidente a semelhança entre as duas. Não com aquela música das gaitas de foles, que sempre me pôs os genes todos aos saltos, mas com a música gaélica cantada, com ou sem instrumentos a acompanhar (esta especialmente apreciada pelos indígenas, pra quem um cantor a sério tem de conseguir cantar sem música), bem mais popular por aqui do que as gaitas, só usadas para ocasiões especiais. São músicas agradáveis mas um tanto chatas, demasiado compridas e repetitivas. Mas percebo porque é que o country também abana a genética toda deste pessoal. O country é a música dos emigrantes, dos escoceses e dos irlandeses que tiveram de fugir daqui nos anos de penúria e levaram os sons da terrinha lá para as américas. Os temas são as saudades da casa e da família (e então passam a vida a dar-lhe com o “take me home” e o “take me back” – devem estar à espera de boleia) das miúdas lá da terra, da paisagem, enfim, é saudades e pouco mais – música de emigrantes já diz quase tudo. E antes country do que pimbas… Quando chegámos já estava tudo cheio, mas a Moira disse logo “eu cá atrás não fico”, mesmo quando eu já estava a tentar gamar uma mesa reservada (era só mudá-la de sítio) pra não ficarmos em pé. E então, ela começou a ver quem estava, quem é que podia desenrascar, meteu-se pelo meio da maralha e quando voltou já tinha conseguido arranjar-nos três cadeiras na segunda fila da frente, não faço ideia como (somos três, que a Norag – Nora prós amigos – também veio; deveríamos ser quatro, mas o marido dela deixou-nos à porta e fugiu). A primeira parte do concerto foi uma desgraça para aguentar aqui sentada, não pela música mas pelas ideias frescas da Moira – “levamos já duas bebidas cada uma, que assim não precisamos de interromper para vir buscar mais…” – argumento copófonico que me convenceu a trazer dois “half pints” de cerveja para o lugar, mas claro que ao intervalo já ‘távamos todas à rasquinha pra despejar. À saída da casa de banho cruzámo-nos com o teclista do grupo, que a Moira tratou logo de convidar pra vir encher os canecos connosco. E alguém já viu um irlandês a recusar um copo? Eu também não. Conversa puxa conversa e mais conversadores, e dali a pouco juntou-se-nos o baterista. O primeiro, o das teclas, tinha um inglês que se entendia perfeitamente; falei-lhe das minhas visitas aos calhaus e ele falou-me de túmulos e pedregulhos e druidas, e eu até achei que ele tinha um sotaque castiço que se entendia perfeitamente, agora o fulano dos tambores, caneco, teve de me repetir tudo devagarinho, que o tal sotaque castiço deve ser de outra região, tão cerrado que não se consegue entender duas seguidas – mesmo assim ainda deu pra perceber que pelos vistos eu posso vir ao bailarico de amanhã mesmo sem ter bilhete, que o moço promete que me faz entrar pelos bastidores. Até que é engraçadinho, mas eu não ‘tou inclinada pra engates e acho que não me apetece passar a noite a dizer “hã?!”, ainda por cima com alguém que começou logo da melhor maneira: “Lisboa…? Ah, na Austrália, claro.” Claríssimo. A farra continuou pelo fim de semana, com uma data de malta abancada em casa da Marisa, a enfiar copos atrás uns dos outros até saírem de gatas, e nisso e em muita coisa são iguaizinhos a nós, provavelmente porque o bicho gente é todo igual no que toca a copos e festarolas privadas. Talvez menos comezaina do que é costume nas da minha terra, sobretudo porque só eu é que me lembrei que deveria haver uma sobremesa (o resto era tudo comida a sério para enfardar bem) e decidi fazer uma tigelada de baba de camelo. E então, em vez de a pôr na mesa, à disposição de quem quisesse, a Marisa resolveu agarrar na tigela e dar uma colher de sopa a cada um, para provarem primeiro, a ver quem ia querer mais. Tudo bem, salvo o facto de que a colher era uma só, lambida e relambida por alguns 20; em vez de baba de camelo, ficámos com cuspo de convidado, mas aparentemente toda a gente achou isto perfeitamente normal. No geral foi uma noite divertida, em que até fizeram um concurso para ver quem tinha as mamas maiores (ganhou a Moira) e acabámos com umas guitarradas do Murdo (Murdigan para os amigos) e o pessoal todo em coro a assassinar as cantigas, enquanto os mais fracotes curtiam a buba nos sofás novos da Marisa. O trivial. A olhar para o jornal, dei-me conta de que as fotografias do pessoal que se casou e dos moços que acabaram o curso, além dos nomes trazem também as moradas, com rua e número de porta, assim mesmo, todas escarrapachadinhas, com certeza para o caso de alguém lhes querer dar os parabéns pessoalmente. Pensei que fosse coisa das famílias, para ninguém ter dúvidas de que é mesmo o filhinho deles que aparece na página social, com um chapéu esquisito e canudo na mão, mas afinal parece que é pecha dos jornalistas, porque as moradas continuam a aparecer no resto das notícias. Como a de um puto que se enfrascou até correrem com ele do bar, por já estar a fazer muitas ondas, e resolveu ir dar uma voltinha para espairecer, com o primeiro carro aberto que encontrou (ao que parece, com chave e tudo). Daí a nada já tinha a bófia toda atrás dele, com certeza entusiasmadíssima por finalmente haver alguma coisa para fazer nesta ilha, até que o puto acabou por se enfiar numa cerca de arame, deitou os postes abaixo, pregou um cagaço medonho nas ovelhinhas e foi agarrado. Pois além de seis meses sem carta, uma multa das gordas e ano e meio de cana por andar por aí a causar distúrbios (já agora, pra que é que se deram ao trabalho de lhe apreender a carta…?), ainda lhe publicam o nome e a morada, talvez para o caso de algum dos lesados lá querer ir tirar satisfações com ele. A não ser que os nomes que aparecem no jornal não sejam exactamente os originais, e não falo de pseudónimos, mas em combinações e abreviaturas, porque pelos vistos é normalíssimo o pessoal assinar com nomes inventados; até agora eu estava convencida que Chrisella e Marisa eram os nomes reais das minhas colegas, pelo menos é assim que elas se apresentam e assinam as cartas do escritório, mas afinal uma chama-se Christina Annabella e a outra Mary Ishbel. Abreviaram os dois, juntaram e pronto, passou a ser uma espécie de nome público. Há que concordar que é prático… e na nossa terrinha ia até resolver algumas frustrações, em casos como, por exemplo, uma Andreia Vanessa poder passar a ser Andressa ou Dreiva, ou mesmo Cátia Susana se fizesse muita questão, sem ninguém lhe levantar problemas legais por causa disso. E então, retomando o tema da minha primeira crónica e dos meus preconceitos quanto aos ilhéus, parece-me que afinal quem está com problemas de insularidade sou eu. Ao fim de uns tempos a esbarrar com a costa a cada esquina, começo a ter a sensação de estar aqui encurralada. Isto pode parecer muito esquisito, tendo em conta que na cidade eu normalmente não ando mais do que dois quarteirões até ao comboio e que a maior parte dos meus fins de semana são passados em casa, entre as escovadelas no gato e a jogatana no computador, por falta de pachorra para saídas e noitadas. Aqui, talvez pela minha condição de estrangeira num sítio novo, a percepção do espaço ficou muito mais desperta, e isso faz-me também ter mais consciência dos limites. Porque mesmo no meu apartamentinho T1 com vista para as traseiras, ensanduichada entre dois andares, eu sei que é só pegar no carro e desatar a andar para poder chegar até à Sibéria, se me der na gana, assim haja gasolina e camisolas suficientes; na ilha tenho duas margens a 20 minutos uma da outra e campos vazios no meio. É bonito, pois, é uma paisagem praticamente minimalista, quase um deserto, e eu até sempre fui um daqueles que vivem numa cidade mas passam a vida a sonhar com os desertos, com espaços abertos sem nada a atrapalhar, onde se pode voltar às origens e resgatar o selvagem que volta e meia desata aos pulos cá por baixo da civilização toda que se carrega às costas, mas afinal, como qualquer outra treta pseudo-filosófica, esbarro com o mar e desejo uma ponte, um ferry barato (o preço é um susto), qualquer hipótese de fuga fácil, porque o que me incomoda não é o tamanho do espaço onde eu vivo, mas a falta de hipóteses de poder alargar os horizontes. Já percebi que não aguento uma prisão por muito tempo, nem que ela tenha o tamanho de uma ilha. Passada a novidade, começo a ficar um tanto sufocada, a desejar terra firme, terra grande, com montes de espaço pra fugir.Um dia destes, em vez da Crónica das Hébridas, acho que vou estar a fazer a Crónica de Cascos de Rolha, onde pelo menos um dos horizontes tenha muito chão pra pisar. |
11.8.07
Crónica das Hébridas - 7
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
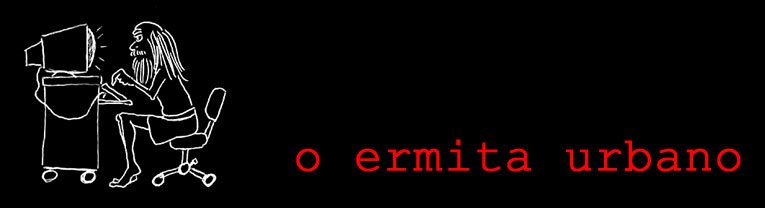
Sem comentários:
Enviar um comentário