| Eu sem saber por onde começar. Bom; fui ver os calhaus. Posso descrever agora como eram os círculos de pedra e o broch de Carloway (Dùn Charlabhaigh Broch), mas quem quiser saber mais, que vá ver à enciclopédia ou à internet. Eu só sei de ter lá estado. E isso, meus amigos, não há fotografia, artigo ou documentário que substitua. Depois de me ter fartado de ver fotografias da torre Eiffel em tudo o que é postal e cartaz turístico, cairam-me os queixos quando finalmente a vi ao vivo e a cores, porque só depois disso é que pude realmente fazer ideia do tamanho. O meu pai diz ter tido a mesma sensação com o coliseu de Roma. E agora, nesta voltinha de fim de semana até ao círculo de Callanish, não foi a questão do peso nem do tamanho que me fez cair os queixos, mas o aspecto praticamente intacto do alinhamento. As pedras não estão partidas nem tombadas. Estão todas lá (aparentemente). Ainda podemos tocar naqueles calhaus e ainda é possível ver o santuário praticamente tal como foi concebido pelos antepassados. E esse tempo imenso, essa distância entre os construtores e a permanência da construção, essa carga toda é que faz o peso real do lugar. Estive noutros círculos no mesmo dia, encantei-me com o que restava das pedras erguidas, com as paisagens enormes ao longe, sítios altos de onde se avistam outras colinas com mais círculos em ruínas, as pedras maiores em verticalidades já difíceis de manter, as outras em pedaços dispersos que a turfa vai tratando de engolir, sítios que posso entender porque é que foram escolhidos, mas que me exigem bastante da imaginação para tentar reconstruir a imagem original. Em Callanish não é preciso imaginar. Está lá tudo. É só abrir os olhinhos. Também já tinha visto postais e T-shirts e posters e o diabo a quatro; é a atracção local e as fotografias das pedras estão por todo o lado. Agora sei que as imagens são falsas, por muitas sombras artísticas e pôres-de-sol que tenham conseguido captar. A perspectiva desaparece completamete e a ideia que dá é de uma floresta de grandes pedras um tanto ao acaso. Muito bonito, mas não tem nada a ver com a realidade. No terreno, começamos por ver as pedras ao longe e esquecer imediatamente as fotografias todas; a tridimensionalidade arrasa logo com elas. Mesmo enquanto só vemos uma aparente linha de pedras no horizonte, a sequência de volumes já dá uma impressão bestialmente forte, a impressão de que estamos a ver qualquer coisa absolutamente acima do resto, como se não fosse totalmente deste mundo. A impressão de sítio sagrado…? Hummm… pois, pra mim, claro, mas pra quem se está nas tintas para o assunto também entender, eu diria que é assim a impressão de “coisa importante”, de uma coisa daquelas em que nem o maior morcão deste mundo consegue ignorar. Topam? E depois paramos o carro, saímos já com os olhos arremelgadinhos, repletos até à celulazinha mais raquítica do nervo óptico, e vamos andando ao longo da avenida de pedras até chegarmos ao círculo central com a certeza de se estar a entrar num templo, olhamos para o calhau rectangular ao centro, cinco metros de pedra lisa que reduzem qualquer santinho pintalgado à sua insigificância, e nessa altura já entendemos tudo, entendemos porque é que os antepassados andaram a acartar pedregulhos, entendemos porque é que os alinharam naquela posição e sentimos que está tudo no sítio certo, com as dimensões certas, e qual canhanhos dos doutores, qual teorias, não é preciso mais nada, basta estar lá pra qualquer coisa cá dentro entender tudo, porque o espírito da coisa mantém-se tão visível como há 4000 anos atrás e não é preciso mais porra de explicação nenhuma. Em resumo: a construção de facto funciona. Mandem os nossos arquitectos vir pra cá olhar prós calhaus. Bem precisam. A única coisa estragada em Callanish é a cripta, porque o tecto caiu. Aos pés da pedra central (e mais um pouquinho e ia dizer altar mor) há uma cripta escavada no chão, com um corredor e duas câmaras; um átrio quase quadrado seguido de uma divisão ainda mais pequena, como um armário ao fundo. Pelo que li, quando fizeram as primeiras escavações encontraram alguns ossos no meio da turfa, que assumiram serem humanos, depois de vários entendidos os estudarem. Hoje em dia seria possível de determinar, mas entretanto perderam-nos. Se era um bacano importante ali enterrado ou os restos de algum carneiro que caiu no buraco, já não há maneira de saber. Mesmo se houvesse a certeza de que eram ossos de gente, também ninguém se lembrou de descrever a posição em que estavam, o que poderia indicar se o indígena tinha sido tranquilamente sepultado pelos compadres ou assassinado pelos invasores que se supõe terem deitado o tecto abaixo durante a foçanguice das pilhagens. Como já disse, os círculos de pedra por aqui são mais que muitos e estavam em pontos altos, relativamente próximos uns dos outros, de onde se podiam avistar, sobretudo se acendessem fogueiras. Dada a grande quantidade de igrejas rivais que actualmente invadem a ilha, lembrou-se a Chrisella de que calhando sempre foi assim já desde o tempo dos pedregulhos. E de repente imaginámos os nativos do antigamente todos divididos em seitas, porque “o nosso santuário é que vale e os outros são todos um bando de heréticos”. De facto, a religião entrou em força na vida dos ilhéus, em todas as versões conhecidas do cristianismo. “Igrejas a mais pra tão pouca gente”, comentava a Moira um dia destes. Com efeito, são tantas que duas delas, rivais entre si, estão só à distância de um quarteirão. “Se estes gajos se chateiam, estão tão próximos que dá pra desatarem todos a atirar tomates uns aos outros…”, comentei eu, ao que a Chrisella, cheia de olho pró negócio, imaginou logo o dinheirão que faria com o jipe carregado de tomates para vender à saída da missa. E depois há o Broch (o ch lê-se como em alemão, a arranhar as goelas), que é uma fortaleza circular, uma torre toda em pedra solta, de paredes duplas, com uma escada no meio das duas para chegar aos andares de cima. Coisa bestialmente sólida, apesar da falta de cimento, feita por antepassados que sabiam bem o que estavam a fazer; um improviso que fosse e arriscavam-se a levar com a torre em cima. O de Carlabhaigh (lê-se carlavag, Carloway na versão inglesa) já está só em metade, mas há outros por essa Escócia fora ainda praticamente intactos (um, pelo menos, parece estar ainda completo, com tecto e tudo). Claro que o sítio é óptimo, uma colina estratégica de lindas vistas sobre um loch ( = laguinho escocês – não esquecer a arranhadela), de onde podiam ver quando lá vinha o inimigo e bombardeá-lo em força (com calhaus, claro – quem pensou em tomates?). Mas apesar dos esforços todos que os antepassados tiveram para fazer edifícios sólidos, capazes de resistir aos milénios, acho que ainda ninguém inventou nada à prova de miúdo. Palavra que eu cheguei a temer pelos pedregulhos. Porque a primeira coisa que um puto faz quando vê uma pedra já meia tombada é… amarinhar por ela acima e ir pra baixo de escorrega, claro. Agora imaginem-me com seis putos a esgravilhar à minha volta, todos entusiasmadíssimos com a mudança de parque de diversões, enquanto as mamãs punham a cusca em dia, completamente alheias ao ataque dos bárbaros. Felizmente, à chegada a Callanish, tiveram o bom senso de os segurarem dentro dos carros à conta de um pacote de bolachas, para me darem uma trégua e eu poder tirar as minhas fotografias em paz. Mas depois foi a festa total, claro, ainda com a ajuda de um cão analfabeto (não leu a placa do “no dogs”) que passou o tempo a desafiar-me com um pauzinho já muito mastigado. Finalmente os putos pararam todos ao redor da cripta e eu fui ver qual era o assunto. Discutia-se a utilidade do buraco. Para eles, aquilo era sem dúvida uma sepultura dos vikings, mas o tamanho estava a deixá-los preocupados; os compartimentos eram demasiado pequenos para adultos, portanto devia ser um túmulo para os bebés (típica poesia infantil). Um dos mais velhos, que aprendeu na escola que os vikings enterravam os mortos com barcos e tudo, fartava-se de tirar medidas a ver se conseguia provar que lá cabia um drakar bem apertadinho, ao que os outros contestavam que eram barcos grandes demais, portanto o drakar devia estar enterrado noutro lado qualquer – ali só ficavam os bebés e pronto, até dava para vários, um ao atravessar, três ao comprido e mais outro no corredor. Quanto à minha tentativa de explicar que aquilo era muito mais antigo, levou logo um pleno atestado de ignorância, porque afinal toda a gente sabe que os antepassados eram todos vikings matulões, de tranças louras e cornos no capacete. Com efeito, à conversa com os indígenas, nota-se que é muito mais forte a ideia dos homens do norte como os antepassados directos, do que propriamente os celtas. Há quase uma espécie de culto ao viking, evidente no nome que põem nas casas (a da Moira chama-se “Norvik”, abreviatura para northern viking), nas ruas ou mesmo nos filhinhos. Os pictos são assunto do resto da Escócia e os celtas devem ter fugido todos prá Irlanda, quando muito andaram por aí em passeio turístico; aqui, o passado comum são os vikings, e vá lá agora vir uma gaja de fora a falar nuns fulanos quaisquer que nunca ninguém viu… “Nós cá somos todos homens do norte, carago!” Callanish não está sequer num sítio alto, ou melhor, está numa pequena colina, entre colinas mais altas, onde também existiam círculos de pedra – o núcleo de onde partiam os raios de um complexo de templos menores? – os tais círculos que não sobreviveram e que hoje são os escorregas dos fedelhos que os turistas trazem nas voltinhas de fim de semana. O de Callanish conservou-se quase intacto e não posso deixar de pensar que é a impressão que causa ao mais céptico que deve ter salvo os pedregulhos do vandalismo dos invasores e da ignorância dos nativos (uma pedra erguida, última resistente de um círculo desaparecido, foi derrubada há menos de um século porque uma lenda falava num pote de ouro enterrado lá por baixo). As pedras de Callanish nem sempre estiveram tão visíveis. Durante séculos foram também semi-engolidas pela turfa, como tudo o resto. Provavelmente, o facto do círculo ter ficado menos exposto durante a época do fanatismo religioso salvou-o mais uma vez. E hoje aí estão elas, em plena luz, protegidas pela lei e cultuadas como ícone turístico, a fazer manguitos ao tempo. Os deuses venceram. |
24.7.07
Crónica das Hébridas - 5
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
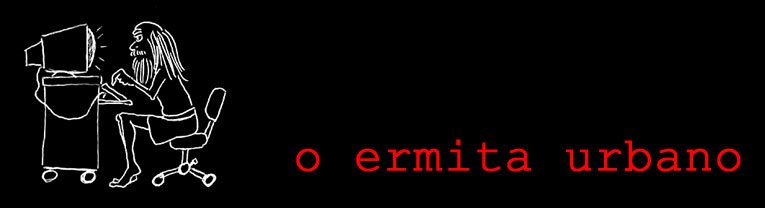
Sem comentários:
Enviar um comentário