Eu cá no alto a escrever nas costas de uma conta de supermercado.
A primeira surpresa foram os números.
Para mim, a Primeira Guerra sempre foi conhecida como a de 14-18. Aqui, no memorial aos mortos das duas guerras mundiais, as datas aparecem escritas várias vezes, mas sempre como 14-19. Não que um ano faça muita diferença em questões de memória, mas quando se trata de uma guerra, qualquer dia a mais já é excessivo. E um ano é muitos dias. Acho que vou ter de rever a história.
Vim até aqui atraída pela torre. Vi-a de longe e meti-me a caminho, em voltas complicadas pelo meio de um campo de golfe, à procura da estrada certa, a tentar convencer-me de que não devia faltar muito (mas afinal faltava, ufff…). E agora que cheguei, confesso que fiquei um tanto desapontada por ver que afinal é uma coisa recente. A silhueta lembra muito as fotografias que vi do Thor de Glastonbury, mas esta é uma construção do século XX, feita entre guerras, quando ainda não faziam ideia de que o memorial ia voltar a servir para mais um montão de mortos próximos. Acrescentaram então um círculo de pedras aos pés da torre, com uns banquinhos onde eu agora me instalei, e em cada pedra há uma lista de nomes de soldados da ilha, organizados por batalhão.
Outra frustração são as ovelhas, uns floquinhos lindos, mais pequenas do que as nossas, com a cara malhada de preto e uma lã bestialmente branquinha e fofinha: andam por aí a pastar mesmo à beira da estrada, mas dão aos cascos em alta velocidade sempre que me tento aproximar de máquina fotográfica em riste.
Mas o sítio é bestial. Não fossem alguns montinhos na paisagem e conseguia ter uma vista de 360 graus. Lá em baixo fica Stornoway, mais uma série de povoações dispersas de que não sei o nome, o mar ao fundo e a silhueta azul das montanhas da Escócia mais ao longe. Visto daqui, o recorte da costa, que quase parte o horizonte em dois, dá-me finalmente a sensação de estar numa ilha. Pode parecer estúpido, afinal aterrei aqui ontem e lá de cima deu pra ver perfeitamente em que sítio me estava a meter, mas depois, quando se chega a terra, há uma grande tendência para esquecer. Ainda esta manhã, à procura da única loja aberta ao domingo, a sensação era a de estar a passear ao longo de um porto de pesca, numa costa qualquer, sem a mínima noção de exiguidade.
Falo da sensação do ilhéu, do indígena atracado à ilha, que só tem o mar pra poder fugir da terra. Não sei se alguém já se lembrou de estudar qual é o limite territorial do bicho gente. Como vivemos em apartamentos, esquecemo-nos disso, mas de certeza que temos ainda um sentido dos limites. Um gato pode cobrir uma área de mais de 3 quilómetros quadrados, território marcado a que chama dele, portanto é natural que, em proporção ao tamanho, um homem precise de bem mais. Ou seja, é evidente que isto aqui não chega pra todos. Vista no mapa, a ilha começa por parecer grande, mas depois começamos a reparar que quase não há estradas e que as povoações são só no litoral. A seguir vamos ao turismo comprar um mapa bem grandão e percebemos porquê: o interior é só água. Uma rede de laguinhos, provavelmente pantanosos, um habitat perfeito para mosquitos e passarocos, mas impróprio para construção.
Parto, claro, do assumidíssimo preconceito de que os ilhéus são todos um tanto apanhadinhos, desejosos de fugirem para o continente sempre que têm oportunidade. Tal como os nossos. Até agora ainda só tive oportunidade de falar com o taxista que me trouxe do aeroporto e com a dona da pensão onde me instalei ( = pardieiro mais barato que encontrei). Não posso, portanto, fazer uma apreciação razoável do carácter dos indígenas, mas pelas queixas que ouço, parece-me que o sonho comum da rapaziada cá do sítio é poder cavar daqui pra fora.
Entre ontem e hoje ainda vi muito pouco. Assim que pude largar a mala, aproveitei para dar uma voltinha de reconhecimento pelo centro, até que os mosquitos acordaram ao fim da tarde e me atacaram como se eu fosse um prato exótico (miam!). Já me tinham falado neles, mas ninguém me avisou que eram canibais. Hoje, na minha caminhada até cá acima, passei pela borda de um riacho e vi-os lá todos, núvens de pontinhos voadores a ganhar apetite para a noite, talvez a combinar ementas e estratégias. Devo confessar que as ferroadas da véspera foram uma experiência interessante. De repente reformulei, à luz dos mosquitos, tudo o que eu li sobre a história destas terras, desde o tempo dos povos primitivos que andaram por aí a levantar calhaus. Imagino séculos e séculos de resistência aos mosquitos, numa batalha absolutamente inglória, porque ainda por cima ganharam eles. Esta noite, os meus colegas da pensão, três mergulhadores que vieram aos caranguejos, mostravam os braços cheios de ferroadas, ainda incrédulos pela falta de um repelente eficaz. Há dias que procuram nas farmácias e experimentam as receitas caseiras dos indígenas, mas nada resulta realmente. O pessoal daqui encara os mosquitos como um mal irremediável e já se resignou a servir-lhes de refeição. Mas para quem vem de fora, a impotência frente aos canibais voadores é uma enorme frustração.
Mas bem mais curiosas são as regras dos nativos.
Hoje de manhã estive a comprar yogurtes na loja da bomba de gasolina, aparentemente uma lojita de bomba como todas as que eu conheço, mas esta é a tal excomungada que se atreve a abrir ao domingo, entre as nove e o meio dia (nada de abusos) e só por isso já foi alvo de protestos à porta e incitações ao boicote, porque aqui dia santo é dia santo e portanto é proibido trabalhar. Nem os autocarros andam, nem barcos, nem coisa nenhuma, e quando o aeroporto abriu ao domingo foi uma escandaleira semelhante, com manifestações e direito a porrada e tudo, mas isso parece que foi por causa de uns quantos contras que apareceram por lá a bater palmas só pra chatear. Pois apesar de todo o revolucionarismo da lojita da bomba, há letreiros por todo o lado a avisar que “não vendemos bebidas alcoólicas ao domingo”. Assim mesmo. Montes de garrafas alinhadinhas nas prateleiras e o respectivo aviso por baixo. Ora esta… será que nesta terra é proibido encher os canecos ao domingo? (convém tirar esta a limpo antes que ainda me lixe). Até aposto que a venda de cervejas ao sábado deve subir que nem um foguete.
Já ontem tinha topado com uma placa em pleno centro da cidade, a avisar que são 500 libras de multa (+750 € – porra…) para quem for agarrado a beber álcool na rua. Ou seja, quanto a comprar uma latinha de cerveja e ir despachá-la para o porto, a ver passar os barquinhos, 'tá quieto.
Mais adiante havia uma montra cheia de traquitana para incentivar o pessoal a deixar de fumar, penduricalhos para os carros, autocolantes, T-shirts, calendários, dísticos a defender o projecto “ilha sem tabaco”, e mais uns cartazes a pedir voluntarios para ajudarem a acabar com a raça maldita dos fumadores (provavelmente precisarão de metralhadoras).
À vista disto, será então que os ilhéus se desgraçam nos vícios para escaparem à sensação de isolamento? Será essa a pancada deles? Ou isto será só a obra de um grupinho puritano com uma noção fundamentalista de comunidade ideal?
Sempre pensei que um grupo de pessoas a viver em cascos de rolha, afastado do cabresto de um governo que ficou lá na metrópole, tivesse no isolamento uma oportunidade bestial para subverter as regras, para criar uma comunidade com dimensões humanas, enfim, sempre pensei que seria uma óptima maneira do pessoal poder mijar fora do penico sem ninguém se incomodar com isso. Admito, ainda cheia de boas intenções, a querer acreditar na liberdade como uma das pulsões humanas (e no Pai Natal e na fada madrinha), que haverá aqui apenas a obra de algum tiranozinho de serviço, que ao ver as suas ovelhinhas em risco de se tresmalharem, tenta desesperado refrear qualquer veleidade com ameaças celestes e cartazes de proibição. A comunidade tem de ser mantida na linha, apertada nas regras como na geografia, senão isto fica uma balda.
Comentavam ontem os mergulhadores que aqui proíbem tudo o que seja divertido. Tabém são escoceses, pessoal de Edimburgo, mas parecem tão descolhoados como eu.
Aproveito o facto de estar sozinha para despachar o meu primeiro cigarrito. Vista daqui, a ilha é um sítio bonito, muito calmo, quase idílico, coisa própria para folheto turístico, desde que não se fale dos mosquitos nem dos tubarões. Aqui em cima, no meio da paz dos mortos das duas guerras, vejo a cidade lá em baixo, num absoluto silêncio dominical, e só me ocorre “ia mesmo bem uma bejeca, caraças – como é que raio se começa uma revolução?”
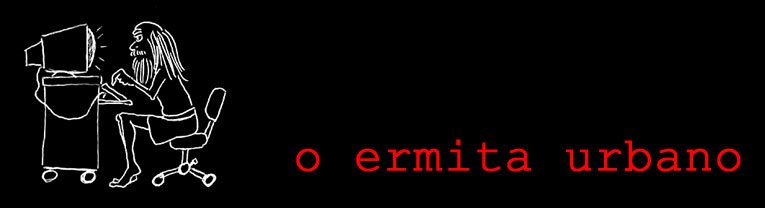
Sem comentários:
Enviar um comentário