Meninos, hoje guiei pela esquerda! Num carro com o volante ao contrário, ignição do lado da porta e a caixa de velocidades ao meio, tal como as nossas, só que neste é preciso lembrar-me que a mão que lá mexe é a outra (senão lá vai mais uma estalada na porta), e menos mal que os pedais estão todos no sítio certo. E depois, bom, é como estar a ver tudo num espelho. Andar para a frente é canja, já fazer as curvas dentro da mão tem algo que se lhe diga, que a tendência é logo chegar o carro prá direita, e quanto às rotundas, bem, nem me atrevi a pegar no volante antes de lá chegarmos, senão é que ia ser o fim da macacada. Da primeira vez que lá passámos, lembro-me que me agarrei ao assento e até os cabelos se me devem ter eriçado. Mesmo agora, a passar por lá todos os dias, ainda me faz uma confusão do caneco ver o trânsito a girar ao contrário e a usar acessos que eu nunca descobriria nem à segunda, quanto mais à primeira...
Quanto às estradas… bom, em Portugal, quando temos uma estrada secundaríssima, daquelas de terra batida, só com uma via, e de repente nos aparece um caramelo pela frente, um de nós tem de se enfiar na valeta e até a carroceria se encolhe para cabermos os dois. Aqui, alcatroaram as estradas mas nem se deram ao trabalho de acrescentar outra faixa; resolveram o problema fazendo umas maminhas ao longo do caminho, com o sinal de “passage place”, que é como quem diz, quando aparece o tal caramelo em sentido contrário, o que tiver a maminha mais próxima do seu lado encosta ali e deixa o outro passar.
Ah, e por aqui os sinais de trânsito têm legendas, como “give way” quando a prioridade é dos outros, ou “blind summit” se há uma lomba, o que deve ser porreiro para os putos que estão a tirar a carta; com a papinha assim toda feita, deve ser preciso ser mesmo muita burro pra chumbar no exame.
A minha comunicação com os indígenas tem vindo a melhorar. Já começo a apanhar as nuances do sotaque e a habituar-me a traduzir rapidamente alguns sons esquisitos pelas letras certas, ainda que de vez em quando me aconteçam alguns incidentes, como hoje, quando eu disse que ia ao supermercado e a Moira me pediu um pimento verde [green pepper], ao que eu percebi “um papel verde” [green paper] e fui à sala das fotocópias buscar um molhinho de folhas, sem perceber porque é que ela desatou à gargalhada.
Quanto a tudo o que é pequenino, esqueçam o que aprenderam nas aulas de inglês, que aqui não se usa o small, nem o little, nem o tiny – é tudo “wee”. Influência dos duendes…? [wee people]. E se a coisa for porreira, então é “lovely”, seja ela o jantar, o tempo, uma pessoa, a paisagem ou uma situação. Se traduzirmos à letra (amoroso) e entretanto tivermos um matulão ao lado a usar o termo constantemente, a conversa soa um tanto amaricada, mas enfim, é uma questão de hábito.
Claro que para eles eu também tenho um palavreado bestiamente estranho; além da ferrugem na língua, ainda me meto a inventá-las, como aqui há dias, em que só me vinha à cabeça “a praça da rotunda” e em vez de dizer “round about”, saiu-me a bela tradução à letra de “round square” ( = “praça redonda” mas também “quadrado redondo”), expressão que a partir daí passei a adoptar plenamente, rendida à genialidade surrealista destas traduções.
Mas quando não sei peço ajuda, claro, como quando estava à procura de uma palavra para “friorenta” e perguntei “como se chama a uma pessoa que está sempre fria?” “Uma mulher”, respondeu a Moira.
Piadas à parte, o facto é que afinal isto não está tudo super-aquecido, como toda a gente me dizia quando eu estava a fazer a mala, talvez porque os meus conselheiros fossem todos meninos que só estiveram em Londres, ou porque eu é que sou mesmo uma friorenta do caneco e vou logo buscar o casaco mal o termómetro desce abaixo dos 20. Se continuar por aqui mais uns tempos, acho que vou ter de sair de casa enrolada num edredon. Quanto aos indígenas, perfeitamente adaptados ao clima depois de uma série de gerações de celtas e vikings e gajos rijos, é vê-los por aí de manguinhas curtas e sandálias, como se não fosse nada com eles.
Acompanhando os nativos nas suas deambulações, dou-me conta de que isto é realmente um meio muito pequeno, onde toda a gente se conhece e se cumprimenta constantemente. Como todos os meios pequenos, o prato do dia é falar da vida alheia. Mas a cusca tem algumas vantagens. As terras altas e as ilhas da Escócia foram estatisticamente consideradas como os lugares mais seguros de todo o Reino Unido. E pelo que vejo, as ilhas devem ser praticamente à prova de ladrão. A Chrisella tem um belo jipe, novinho e lustroso, que nem precisa de trancar – como a estas alturas já toda a gente sabe que ela tem um jipe e lhe diz adeus quando a vê passar, se um malandro qualquer se aproveitasse da porta aberta e tentasse fugir com ele, o pessoal ia começar por achar muito estranho (mas quem é aquele manjerico a guiar o jipe da Chrisella?) e a seguir, mal se soubesse que tinha sido roubado, o meliante seria caçado num instante e provavelmente ainda levava uns bons muquecos. Mas nenhum ladrão é assim tão parvo; os carros só conseguem sair da ilha pelo ferry boat e é preciso ter os papéis em ordem para os embarcar. Quanto a desmanchá-los e passar as peças aos poucos, com os limites de bagagem e o preço dos bilhetes ficaria tão caro que mais valia comprar um novo no stand.
Os efeitos da cusca têm muitas facetas, umas melhores do que outras. A falta de privacidade é talvez a mais chata e pode atrapalhar bastante, como no caso da recente abertura de uma associação de alcoólicos anónimos aqui na ilha. Por muito que jurem manter segredo sobre quem estava a reunião, não sei como vão conseguir lá entrar sem ninguém dar por isso (“viste o MacCoiso?” “Sim sim, vi-o agora mesmo a entrar ali nos alcoólicos anónimos”). Será que têm uma porta nas traseiras?
Mas tem facetas óptimas, como quando o único radar de velocidade da polícia local teve uma avaria e tiveram de o mandar arranjar em Edinburgh… Eles bem que continuaram a fazer de conta que estavam a controlar os aceleras, mas como já toda a malta sabia que era só bluff, passavam na broa pela frente deles e ainda aproveitavam pra fazer caretas.
Muito falado na semana passada foi o caso de uma miudinha de 14 anos que se pisgou de casa com um canastrão de 46 (baixote, gordo, feio, óculos tipo vitrine, e assim ficou provado que há mesmo gostos pra tudo). Mas o mais bizarro é que, como eles queriam passar despercebidos, resolveram fugir para a Escócia. Se tivessem ficado em Londres, misturados com a maralha, talvez conseguissem ganhar tempo até haver menos controle e poderem sair do país, mas na Escócia, onde qualquer estranho que aparece fica logo debaixo de olho, é claro que foram logo agarrados. O gajo, além de feio, ainda por cima é burro. Realmente, não sei lá o que é que a miúda viu naquilo…
Muito comentado também foi a edição de um dicionário de gaélico com palavras novas (até agora usavam as do inglês para o efeito), The New English-Gaelic Dictionary, pelo Prof. Derick S. Thomson. É claro que as minhas colegas fizeram o que toda a gente faz quando pega num dicionário novo: foram à procura dos palavrões. E quanto a isso, este senhor parece ter ideias muito estranhas sobre o sexo e traduz expressões como fuck (suponho que ninguém precisa da tradução em português) por “pôr-se por cima de alguém” ou masturbação como “pressionar-se a si mesmo com o dedo” (!!!) Como podem calcular, esta da masturbação deu brado e toda a gente gostava de saber como é que o Professor Thomson terá chegado a uma descrição destas. Dada a óbvia inutilidade das palavras novas, as minhas colegas discutiam ao almoço qual seria a palavra mais lógica que se deveria usar. E então perguntaram-me a mim como se dizia lá na minha terra. “Masturbação é como em inglês, praticamente é só uma questão de pronúncia” – e disse a palavra devagar para elas perceberem. Pois, não servia. “Então e se for em palavrão?” Um tanto relutante, lá disse “punheta”, à espera que ninguém fosse capaz de reproduzir aquilo, mas contra todas as minhas expectativas, além de gramarem o termo, desataram logo a repetir umas para as outras para afinarem o sotaque (e mesmo a esconder a cabeça debaixo da mesa, posso garantir que ficou perfeito). Como depois era preciso dar-lhe um ar mais gaélico, a palavra acabou por ficar estabelecida como “punhetaroc”. E foi assim que eu dei a minha contribuição para o vocabulário local. Se por acaso a coisa pega, tou pra ver, daqui a uns anos os linguistas todos a tentarem explicar a origem do termo.Ontem, para mostrar as habilidades, despedi-me da Chrisella e do marido com um “boa noite” em gaélico. “Eïche vá!” (oidhche mhath) – disse eu. “Punheta” – responderam eles; mas afinal, é a única palavra que sabem dizer na minha língua.
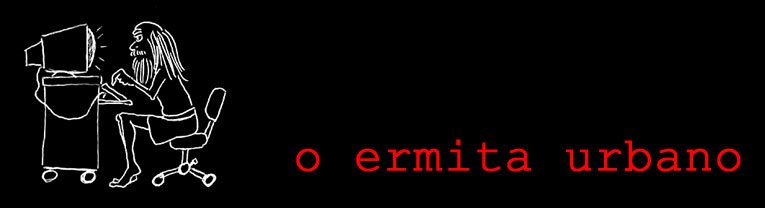
Sem comentários:
Enviar um comentário