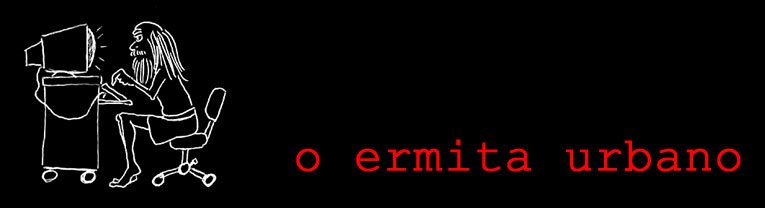|
27.7.07
Tolsta
Crónica das Hébridas - 6
Roam-se de inveja: eu já posso dizer a toda a gente que vi o meu patrão de saias, coisa que com certeza muito poucos portugueses terão oportunidade de se poderem gabar (patroas não vale, hem? nada de batotas). O que eu vi foi um senhor barbudo, careca e respeitável, de saia vermelha e meias brancas pelo meio da perna. OK, ok, podem argumentar à vontade que eu estou na Escócia, que aquilo é um kilt, tudo bem, chamem-lhe lá o que quiserem, porque mesmo com nomes esquisitos é tal e qual uma saia traçada por cima do joelho, com pregas e um alfinete a prender a abertura, para o vento não mostrar a coxa peluda.
Fora de brincadeiras, de facto ver uma data de matulões em trajes típicos não tem nada de estranho, nem sequer de risível, estivessem eles a passear em Lisboa e já a coisa era outra, mas assim, dentro do contexto, posso dizer que é até bastante elegante. No casamento da filha do patrão, onde eu fui cair de paraquedas, havia por lá uma data deles, incluindo um puto pequenino ainda de chucha, de tal maneira que os poucos fulanos de calças é que destoavam à brava, como se andassem com um cartaz a apregoar “eu não sou daqui”.
A fatiota não deixa de ser estranha, mas como ainda não me informei sobre o assunto, em vez de vos instruir, só posso especular (especialidade minha):
· dado o facto dos romanos descreverem os povos celtas com calças aos quadrados, de cores vivas, presume-se que o pano se manteve mas o modelo mudou radicalmente;
· dado também que a Escócia passou praticamente o tempo todo à bulha com os diversos vizinhos, invasores, tiranos e afins, onde precisavam de se mexer à vontade, esconder-se em montanhas onde os outros dificilmente se arriscavam e meter-se em altas sarrafuscas quando tinham de chegar a vias de facto;
então por que raio é que mudaram de umas calças práticas para uma saia de pregas que só atrapalha? (experimentem andar de gatas com uma vestida e logo vêem do que estou a falar).
Dados os factos contraditórios, a minha explicação é que, dada a inferioridade numérica e as adversidades do território, os homens tinham de ser muita bravos pra conseguirem dar conta do recado; ora tendo de andar de saias, com o friozinho que aqui faz e uma data de mosquitos a dar ferroadas lá por baixo, acho que qualquer um fica capaz de atacar o próximo à dentada. Isto com certeza foi uma ideia estratégica de um comandante à rasca, com uma data de homens desmotivados, sem vontade nenhuma de ir à luta, e o inimigo prestes a aparecer. “Cambada de meninas! Pois vão combater de saias, qu’é o que lhes vai bem!” E eles ficaram todos tão lixados com a vergonha, com o frio e com os mosquitos, que nesse dia os desgraçados dos adversários devem ter levado a sova da vida deles. ...Mas suponho que quem estudou o fenómeno tenha alguma explicação mais plausível.
Agora agarrem-se bem… vocês sabem o que é que esta malta bebe à refeição, com o bacalhau e as batatas fritas?… Leite. Leram bem. Os gajos bebem leite. Menos mal que, quando falo em bacalhau, é bacalhau fresco, não é do nosso (a propósito, foi preciso vir até aqui para ver como é um bacalhau acabado de sair da água), e cozinha-se como qualquer pescada gorducha, por sinal bem agradável. Claro que sempre que o orçamento e o fígado o permitem, preferem beber vinho (a cerca de 6 € a garrafa), mas num jantarinho simples bebe-se leite e acha-se muito esquisito porque é que as meninas de fora fazem tantas caretas e tanta espantação por coisa tão corriqueira.
Também comem galinha com compota de amoras, mas isso eu só tenho de aplaudir, que sempre gramei estes contrastes, portanto venha de lá o frasco enquanto vocês torcem o nariz.
Os pequenos hábitos são muito diferentes para quem tem outros paladares e outros costumes. Apesar de normalíssimo para muitos dos meus ilustres conterrâneos, para mim é um nojo ver toda a gente, mas mesmo toda, em cada casa que tenho entrado, com um alguidar dentro do lava-louças, normalmente peganhento, asqueroso, cheio de gorduraça entranhada nos riscos do plástico. Enchem o coiso com água, deitam-lhe detergente, e depois mergulham a louça naquela sopa, passam o esfregão à rais-te-parta e põem a escorrer, ainda cheia de espuma e restos de comida. Daí vai para o armário e na refeição seguinte comemos naquilo. Deve ser por isso que eles dispensam o azeite… Pelo menos a louça ainda vê esfregão, agora o alguidar nem isso. Cada vez que vou ajudar, a primeira coisa que eu faço é tirar o coiso seboso do lava-louças e pô-lo no chão, o que causa grande galhofa entre os indígenas e até já me tiraram a fotografia, de prato na mão e alguidar aos pés, para poderem mostrar aos amigos os hábitos esquisitos que as estrangeiras têm.
Igualmente omnipresente é a cafeteira eléctrica, mas dado o gosto que eles têm por chá, essa eu entendo, porque é bestialmente rápida para ferver água. Mas outra bem menos lógica é a falta de toalheiros nas casas de banho, ou mesmo de uns ganchinhos na cozinha para pendurar os panos da louça. Assim, tudo o que é trapo é deixado nas costas das cadeiras ou largado à balda no chão da casa de banho.
E depois, toda a gente tem um fogão muito castiço que funciona com turfa. Em vez de carvão, usam turfa como combustível, o que deve sair bastante económico, porque afinal é só só cavar o quintal e encher o balde. Os fogões que tenho visto são todos castanhos, com quatro portinhas, como os antigos fogões a lenha, e a malta usa-os sobretudo como aquecimento, sempre a funcionar, do que propriamente para cozinhar. Por aqui vive-se na cozinha, a divisão maior e mais aquecida que serve de sala comum, onde se recebe o pessoal, se vê a televisão e se vai assaltando o frigorífico nos entretantos (deve ser por isso que são todos tão anafadotes).
Com a mania das originalidades, as tomadas por aqui tem 3 pinos e um interruptor, ou seja, quanto a trazer aparelhos eléctricos para cá, tratem primeiro de passar na loja e comprar fichas para substituir, pois de contrário, o telemóvel ou mesmo o computador portátil só funcionam enquanto durar a carga da bateria.
Quanto ao teclado dos computas locais, bom, eu estou a escrever com o mapa de caracteres aberto e a usar short cuts porque não há assentos. Como o gaélico leva graves e agudos, há nesta altura uma batalha local, através do jornal da terra, pela adaptação dos teclados. “E porque é que não compram uns quantos teclados como os nossos, lá de Portugal, e arrumam o assunto?” “Ah, por causa do software, então, aquilo não é só ligar e já tá…” Ainda sugeri que comprassem também o software, se é que o teclado não vem já com o respectivo disquinho de instalação, mas parece que o orçamento do escritório não dá para grandes cavalarias. ...E depois, claro que é muito mais divertido escrever artigos para o jornal a acusar os malandros dos ingleses, porque se ‘tá mesmo a ver que isto dos teclados é mais uma forma de discriminação da cultura gaélica.
Hábitos diários à parte, os das instituições também são um tanto diferentes. Ontem tive de abrir uma conta no Royal Bank of Scotland, porque o escritório paga os ordenados por lá – bom, e com a treta do câmbio, tenho pago um dinheirão de cada vez que vou levantar umas quantas libras ao multibanco com o meu cartãozinho português, portanto sempre será melhor ter umas massas no banco local. E então, pasme-se, abriram-me uma conta sem me pedirem uma librazita que fosse como depósito inicial. Mais: mesmo sem ter lá massa, ficaram de me mandar o cartão do multibanco (de uso grátis, sem taxas) para a morada da Marisa (porque eu não tenho um endereço certo, tem sido uma semana com cada uma), e se entretanto quiser movimentar a conta, tenho um número de código escrito num papelinho rabiscado que a menina me deu – “basta dar este número no balcão e pode levantar dinheiro”. Assim mesmo – toma e embrulha. Havia de ser na nossa pátria lusa… Sem massa nem morada, ‘pera lá que já cospes. Segurança, népia, mas há que concordar que é bastante confortável.
Já menos confortável, sobretudo para quem lá trabalha, é o sistema de encomendas dos correios. Os pacotes que ninguém atende na porta ficam à espera na estação durante 6 semanas. Se ninguém aparece para os levantar durante esse tempo, são enviados para o posto de Belfast, encarregado de reenviar as encomendas para os respectivos remetentes. Agora imaginem o estado em que chegam os “black puddings” (grande chouriço de sangue em versão local) que a titia da terra tentou enviar ao sobrinho que foi para Londres… Segundo a descrição do Donald, um empregado dos correios, os pacotes chegam já com o caldo da fermentação a repassar o papel, numa sopa medonha de cheiro pestilento. A avaliar pelas caretas, os black puddings e os grilos vivos (enfim, quando os enfrascaram estavam vivos...), enviados para os donos de animais exóticos papa-grilos, parecem ser o pesadelo do Donald. Sempre que lhe toca a vez de ser ele a separar as encomendas que chegam de Belfast, entra em casa já a despir a roupa empestada e vai directamente pró banho.
Mas é uma terreola simpática com gente porreira, não se deixem levar pelos meus comentários, afinal aterrei aqui vinda de outras paragens e às vezes sinto-me no meio dos selvagens, mas a opinião deles deve ser recíproca. E depois, se não fossem as diferenças, para que é que valia a pena viajar?
Fora de brincadeiras, de facto ver uma data de matulões em trajes típicos não tem nada de estranho, nem sequer de risível, estivessem eles a passear em Lisboa e já a coisa era outra, mas assim, dentro do contexto, posso dizer que é até bastante elegante. No casamento da filha do patrão, onde eu fui cair de paraquedas, havia por lá uma data deles, incluindo um puto pequenino ainda de chucha, de tal maneira que os poucos fulanos de calças é que destoavam à brava, como se andassem com um cartaz a apregoar “eu não sou daqui”.
A fatiota não deixa de ser estranha, mas como ainda não me informei sobre o assunto, em vez de vos instruir, só posso especular (especialidade minha):
· dado o facto dos romanos descreverem os povos celtas com calças aos quadrados, de cores vivas, presume-se que o pano se manteve mas o modelo mudou radicalmente;
· dado também que a Escócia passou praticamente o tempo todo à bulha com os diversos vizinhos, invasores, tiranos e afins, onde precisavam de se mexer à vontade, esconder-se em montanhas onde os outros dificilmente se arriscavam e meter-se em altas sarrafuscas quando tinham de chegar a vias de facto;
então por que raio é que mudaram de umas calças práticas para uma saia de pregas que só atrapalha? (experimentem andar de gatas com uma vestida e logo vêem do que estou a falar).
Dados os factos contraditórios, a minha explicação é que, dada a inferioridade numérica e as adversidades do território, os homens tinham de ser muita bravos pra conseguirem dar conta do recado; ora tendo de andar de saias, com o friozinho que aqui faz e uma data de mosquitos a dar ferroadas lá por baixo, acho que qualquer um fica capaz de atacar o próximo à dentada. Isto com certeza foi uma ideia estratégica de um comandante à rasca, com uma data de homens desmotivados, sem vontade nenhuma de ir à luta, e o inimigo prestes a aparecer. “Cambada de meninas! Pois vão combater de saias, qu’é o que lhes vai bem!” E eles ficaram todos tão lixados com a vergonha, com o frio e com os mosquitos, que nesse dia os desgraçados dos adversários devem ter levado a sova da vida deles. ...Mas suponho que quem estudou o fenómeno tenha alguma explicação mais plausível.
Agora agarrem-se bem… vocês sabem o que é que esta malta bebe à refeição, com o bacalhau e as batatas fritas?… Leite. Leram bem. Os gajos bebem leite. Menos mal que, quando falo em bacalhau, é bacalhau fresco, não é do nosso (a propósito, foi preciso vir até aqui para ver como é um bacalhau acabado de sair da água), e cozinha-se como qualquer pescada gorducha, por sinal bem agradável. Claro que sempre que o orçamento e o fígado o permitem, preferem beber vinho (a cerca de 6 € a garrafa), mas num jantarinho simples bebe-se leite e acha-se muito esquisito porque é que as meninas de fora fazem tantas caretas e tanta espantação por coisa tão corriqueira.
Também comem galinha com compota de amoras, mas isso eu só tenho de aplaudir, que sempre gramei estes contrastes, portanto venha de lá o frasco enquanto vocês torcem o nariz.
Os pequenos hábitos são muito diferentes para quem tem outros paladares e outros costumes. Apesar de normalíssimo para muitos dos meus ilustres conterrâneos, para mim é um nojo ver toda a gente, mas mesmo toda, em cada casa que tenho entrado, com um alguidar dentro do lava-louças, normalmente peganhento, asqueroso, cheio de gorduraça entranhada nos riscos do plástico. Enchem o coiso com água, deitam-lhe detergente, e depois mergulham a louça naquela sopa, passam o esfregão à rais-te-parta e põem a escorrer, ainda cheia de espuma e restos de comida. Daí vai para o armário e na refeição seguinte comemos naquilo. Deve ser por isso que eles dispensam o azeite… Pelo menos a louça ainda vê esfregão, agora o alguidar nem isso. Cada vez que vou ajudar, a primeira coisa que eu faço é tirar o coiso seboso do lava-louças e pô-lo no chão, o que causa grande galhofa entre os indígenas e até já me tiraram a fotografia, de prato na mão e alguidar aos pés, para poderem mostrar aos amigos os hábitos esquisitos que as estrangeiras têm.
Igualmente omnipresente é a cafeteira eléctrica, mas dado o gosto que eles têm por chá, essa eu entendo, porque é bestialmente rápida para ferver água. Mas outra bem menos lógica é a falta de toalheiros nas casas de banho, ou mesmo de uns ganchinhos na cozinha para pendurar os panos da louça. Assim, tudo o que é trapo é deixado nas costas das cadeiras ou largado à balda no chão da casa de banho.
E depois, toda a gente tem um fogão muito castiço que funciona com turfa. Em vez de carvão, usam turfa como combustível, o que deve sair bastante económico, porque afinal é só só cavar o quintal e encher o balde. Os fogões que tenho visto são todos castanhos, com quatro portinhas, como os antigos fogões a lenha, e a malta usa-os sobretudo como aquecimento, sempre a funcionar, do que propriamente para cozinhar. Por aqui vive-se na cozinha, a divisão maior e mais aquecida que serve de sala comum, onde se recebe o pessoal, se vê a televisão e se vai assaltando o frigorífico nos entretantos (deve ser por isso que são todos tão anafadotes).
Com a mania das originalidades, as tomadas por aqui tem 3 pinos e um interruptor, ou seja, quanto a trazer aparelhos eléctricos para cá, tratem primeiro de passar na loja e comprar fichas para substituir, pois de contrário, o telemóvel ou mesmo o computador portátil só funcionam enquanto durar a carga da bateria.
Quanto ao teclado dos computas locais, bom, eu estou a escrever com o mapa de caracteres aberto e a usar short cuts porque não há assentos. Como o gaélico leva graves e agudos, há nesta altura uma batalha local, através do jornal da terra, pela adaptação dos teclados. “E porque é que não compram uns quantos teclados como os nossos, lá de Portugal, e arrumam o assunto?” “Ah, por causa do software, então, aquilo não é só ligar e já tá…” Ainda sugeri que comprassem também o software, se é que o teclado não vem já com o respectivo disquinho de instalação, mas parece que o orçamento do escritório não dá para grandes cavalarias. ...E depois, claro que é muito mais divertido escrever artigos para o jornal a acusar os malandros dos ingleses, porque se ‘tá mesmo a ver que isto dos teclados é mais uma forma de discriminação da cultura gaélica.
Hábitos diários à parte, os das instituições também são um tanto diferentes. Ontem tive de abrir uma conta no Royal Bank of Scotland, porque o escritório paga os ordenados por lá – bom, e com a treta do câmbio, tenho pago um dinheirão de cada vez que vou levantar umas quantas libras ao multibanco com o meu cartãozinho português, portanto sempre será melhor ter umas massas no banco local. E então, pasme-se, abriram-me uma conta sem me pedirem uma librazita que fosse como depósito inicial. Mais: mesmo sem ter lá massa, ficaram de me mandar o cartão do multibanco (de uso grátis, sem taxas) para a morada da Marisa (porque eu não tenho um endereço certo, tem sido uma semana com cada uma), e se entretanto quiser movimentar a conta, tenho um número de código escrito num papelinho rabiscado que a menina me deu – “basta dar este número no balcão e pode levantar dinheiro”. Assim mesmo – toma e embrulha. Havia de ser na nossa pátria lusa… Sem massa nem morada, ‘pera lá que já cospes. Segurança, népia, mas há que concordar que é bastante confortável.
Já menos confortável, sobretudo para quem lá trabalha, é o sistema de encomendas dos correios. Os pacotes que ninguém atende na porta ficam à espera na estação durante 6 semanas. Se ninguém aparece para os levantar durante esse tempo, são enviados para o posto de Belfast, encarregado de reenviar as encomendas para os respectivos remetentes. Agora imaginem o estado em que chegam os “black puddings” (grande chouriço de sangue em versão local) que a titia da terra tentou enviar ao sobrinho que foi para Londres… Segundo a descrição do Donald, um empregado dos correios, os pacotes chegam já com o caldo da fermentação a repassar o papel, numa sopa medonha de cheiro pestilento. A avaliar pelas caretas, os black puddings e os grilos vivos (enfim, quando os enfrascaram estavam vivos...), enviados para os donos de animais exóticos papa-grilos, parecem ser o pesadelo do Donald. Sempre que lhe toca a vez de ser ele a separar as encomendas que chegam de Belfast, entra em casa já a despir a roupa empestada e vai directamente pró banho.
Mas é uma terreola simpática com gente porreira, não se deixem levar pelos meus comentários, afinal aterrei aqui vinda de outras paragens e às vezes sinto-me no meio dos selvagens, mas a opinião deles deve ser recíproca. E depois, se não fossem as diferenças, para que é que valia a pena viajar?
24.7.07
Broch de Carloway
o Broch visto de trás - imaginem o resto que lá falta para completar o pudim
o Broch visto de frente, numa fotografia sacada da net
interior do Broch de Carloway, onde se vê a muralha dupla
interior das paredes do Broch, com a estrutura do piso de cima
Bué da calhaus!
círculo de pedras de Cnoc Fhillbhir Bheag - não se esforcem, lindos, que a pronuncia disto não tem nada a ver com a grafia
Callanish numa fotografia que não é do ermita; é um postal com uma vista aérea e os créditos são do Colin Baxter, que conseguiu uma vista de conjunto bestial
esta sim, é o círculo de Callanish tirada pelo ermita num dia típico por estas bandas, a chover como convém
e lá vai outra, tirada de outro ângulo, agora com a pedra maior vista de frente
e esta agora tem um cão e tudo, o tal que queria que eu lhe atirasse um pauzinho já todo babado - yac! (mas eu alinhei, claro), que é a coisa preta e branca na erva à frente do calhau maior, para quem ainda não localizou
Crónica das Hébridas - 5
| Eu sem saber por onde começar. Bom; fui ver os calhaus. Posso descrever agora como eram os círculos de pedra e o broch de Carloway (Dùn Charlabhaigh Broch), mas quem quiser saber mais, que vá ver à enciclopédia ou à internet. Eu só sei de ter lá estado. E isso, meus amigos, não há fotografia, artigo ou documentário que substitua. Depois de me ter fartado de ver fotografias da torre Eiffel em tudo o que é postal e cartaz turístico, cairam-me os queixos quando finalmente a vi ao vivo e a cores, porque só depois disso é que pude realmente fazer ideia do tamanho. O meu pai diz ter tido a mesma sensação com o coliseu de Roma. E agora, nesta voltinha de fim de semana até ao círculo de Callanish, não foi a questão do peso nem do tamanho que me fez cair os queixos, mas o aspecto praticamente intacto do alinhamento. As pedras não estão partidas nem tombadas. Estão todas lá (aparentemente). Ainda podemos tocar naqueles calhaus e ainda é possível ver o santuário praticamente tal como foi concebido pelos antepassados. E esse tempo imenso, essa distância entre os construtores e a permanência da construção, essa carga toda é que faz o peso real do lugar. Estive noutros círculos no mesmo dia, encantei-me com o que restava das pedras erguidas, com as paisagens enormes ao longe, sítios altos de onde se avistam outras colinas com mais círculos em ruínas, as pedras maiores em verticalidades já difíceis de manter, as outras em pedaços dispersos que a turfa vai tratando de engolir, sítios que posso entender porque é que foram escolhidos, mas que me exigem bastante da imaginação para tentar reconstruir a imagem original. Em Callanish não é preciso imaginar. Está lá tudo. É só abrir os olhinhos. Também já tinha visto postais e T-shirts e posters e o diabo a quatro; é a atracção local e as fotografias das pedras estão por todo o lado. Agora sei que as imagens são falsas, por muitas sombras artísticas e pôres-de-sol que tenham conseguido captar. A perspectiva desaparece completamete e a ideia que dá é de uma floresta de grandes pedras um tanto ao acaso. Muito bonito, mas não tem nada a ver com a realidade. No terreno, começamos por ver as pedras ao longe e esquecer imediatamente as fotografias todas; a tridimensionalidade arrasa logo com elas. Mesmo enquanto só vemos uma aparente linha de pedras no horizonte, a sequência de volumes já dá uma impressão bestialmente forte, a impressão de que estamos a ver qualquer coisa absolutamente acima do resto, como se não fosse totalmente deste mundo. A impressão de sítio sagrado…? Hummm… pois, pra mim, claro, mas pra quem se está nas tintas para o assunto também entender, eu diria que é assim a impressão de “coisa importante”, de uma coisa daquelas em que nem o maior morcão deste mundo consegue ignorar. Topam? E depois paramos o carro, saímos já com os olhos arremelgadinhos, repletos até à celulazinha mais raquítica do nervo óptico, e vamos andando ao longo da avenida de pedras até chegarmos ao círculo central com a certeza de se estar a entrar num templo, olhamos para o calhau rectangular ao centro, cinco metros de pedra lisa que reduzem qualquer santinho pintalgado à sua insigificância, e nessa altura já entendemos tudo, entendemos porque é que os antepassados andaram a acartar pedregulhos, entendemos porque é que os alinharam naquela posição e sentimos que está tudo no sítio certo, com as dimensões certas, e qual canhanhos dos doutores, qual teorias, não é preciso mais nada, basta estar lá pra qualquer coisa cá dentro entender tudo, porque o espírito da coisa mantém-se tão visível como há 4000 anos atrás e não é preciso mais porra de explicação nenhuma. Em resumo: a construção de facto funciona. Mandem os nossos arquitectos vir pra cá olhar prós calhaus. Bem precisam. A única coisa estragada em Callanish é a cripta, porque o tecto caiu. Aos pés da pedra central (e mais um pouquinho e ia dizer altar mor) há uma cripta escavada no chão, com um corredor e duas câmaras; um átrio quase quadrado seguido de uma divisão ainda mais pequena, como um armário ao fundo. Pelo que li, quando fizeram as primeiras escavações encontraram alguns ossos no meio da turfa, que assumiram serem humanos, depois de vários entendidos os estudarem. Hoje em dia seria possível de determinar, mas entretanto perderam-nos. Se era um bacano importante ali enterrado ou os restos de algum carneiro que caiu no buraco, já não há maneira de saber. Mesmo se houvesse a certeza de que eram ossos de gente, também ninguém se lembrou de descrever a posição em que estavam, o que poderia indicar se o indígena tinha sido tranquilamente sepultado pelos compadres ou assassinado pelos invasores que se supõe terem deitado o tecto abaixo durante a foçanguice das pilhagens. Como já disse, os círculos de pedra por aqui são mais que muitos e estavam em pontos altos, relativamente próximos uns dos outros, de onde se podiam avistar, sobretudo se acendessem fogueiras. Dada a grande quantidade de igrejas rivais que actualmente invadem a ilha, lembrou-se a Chrisella de que calhando sempre foi assim já desde o tempo dos pedregulhos. E de repente imaginámos os nativos do antigamente todos divididos em seitas, porque “o nosso santuário é que vale e os outros são todos um bando de heréticos”. De facto, a religião entrou em força na vida dos ilhéus, em todas as versões conhecidas do cristianismo. “Igrejas a mais pra tão pouca gente”, comentava a Moira um dia destes. Com efeito, são tantas que duas delas, rivais entre si, estão só à distância de um quarteirão. “Se estes gajos se chateiam, estão tão próximos que dá pra desatarem todos a atirar tomates uns aos outros…”, comentei eu, ao que a Chrisella, cheia de olho pró negócio, imaginou logo o dinheirão que faria com o jipe carregado de tomates para vender à saída da missa. E depois há o Broch (o ch lê-se como em alemão, a arranhar as goelas), que é uma fortaleza circular, uma torre toda em pedra solta, de paredes duplas, com uma escada no meio das duas para chegar aos andares de cima. Coisa bestialmente sólida, apesar da falta de cimento, feita por antepassados que sabiam bem o que estavam a fazer; um improviso que fosse e arriscavam-se a levar com a torre em cima. O de Carlabhaigh (lê-se carlavag, Carloway na versão inglesa) já está só em metade, mas há outros por essa Escócia fora ainda praticamente intactos (um, pelo menos, parece estar ainda completo, com tecto e tudo). Claro que o sítio é óptimo, uma colina estratégica de lindas vistas sobre um loch ( = laguinho escocês – não esquecer a arranhadela), de onde podiam ver quando lá vinha o inimigo e bombardeá-lo em força (com calhaus, claro – quem pensou em tomates?). Mas apesar dos esforços todos que os antepassados tiveram para fazer edifícios sólidos, capazes de resistir aos milénios, acho que ainda ninguém inventou nada à prova de miúdo. Palavra que eu cheguei a temer pelos pedregulhos. Porque a primeira coisa que um puto faz quando vê uma pedra já meia tombada é… amarinhar por ela acima e ir pra baixo de escorrega, claro. Agora imaginem-me com seis putos a esgravilhar à minha volta, todos entusiasmadíssimos com a mudança de parque de diversões, enquanto as mamãs punham a cusca em dia, completamente alheias ao ataque dos bárbaros. Felizmente, à chegada a Callanish, tiveram o bom senso de os segurarem dentro dos carros à conta de um pacote de bolachas, para me darem uma trégua e eu poder tirar as minhas fotografias em paz. Mas depois foi a festa total, claro, ainda com a ajuda de um cão analfabeto (não leu a placa do “no dogs”) que passou o tempo a desafiar-me com um pauzinho já muito mastigado. Finalmente os putos pararam todos ao redor da cripta e eu fui ver qual era o assunto. Discutia-se a utilidade do buraco. Para eles, aquilo era sem dúvida uma sepultura dos vikings, mas o tamanho estava a deixá-los preocupados; os compartimentos eram demasiado pequenos para adultos, portanto devia ser um túmulo para os bebés (típica poesia infantil). Um dos mais velhos, que aprendeu na escola que os vikings enterravam os mortos com barcos e tudo, fartava-se de tirar medidas a ver se conseguia provar que lá cabia um drakar bem apertadinho, ao que os outros contestavam que eram barcos grandes demais, portanto o drakar devia estar enterrado noutro lado qualquer – ali só ficavam os bebés e pronto, até dava para vários, um ao atravessar, três ao comprido e mais outro no corredor. Quanto à minha tentativa de explicar que aquilo era muito mais antigo, levou logo um pleno atestado de ignorância, porque afinal toda a gente sabe que os antepassados eram todos vikings matulões, de tranças louras e cornos no capacete. Com efeito, à conversa com os indígenas, nota-se que é muito mais forte a ideia dos homens do norte como os antepassados directos, do que propriamente os celtas. Há quase uma espécie de culto ao viking, evidente no nome que põem nas casas (a da Moira chama-se “Norvik”, abreviatura para northern viking), nas ruas ou mesmo nos filhinhos. Os pictos são assunto do resto da Escócia e os celtas devem ter fugido todos prá Irlanda, quando muito andaram por aí em passeio turístico; aqui, o passado comum são os vikings, e vá lá agora vir uma gaja de fora a falar nuns fulanos quaisquer que nunca ninguém viu… “Nós cá somos todos homens do norte, carago!” Callanish não está sequer num sítio alto, ou melhor, está numa pequena colina, entre colinas mais altas, onde também existiam círculos de pedra – o núcleo de onde partiam os raios de um complexo de templos menores? – os tais círculos que não sobreviveram e que hoje são os escorregas dos fedelhos que os turistas trazem nas voltinhas de fim de semana. O de Callanish conservou-se quase intacto e não posso deixar de pensar que é a impressão que causa ao mais céptico que deve ter salvo os pedregulhos do vandalismo dos invasores e da ignorância dos nativos (uma pedra erguida, última resistente de um círculo desaparecido, foi derrubada há menos de um século porque uma lenda falava num pote de ouro enterrado lá por baixo). As pedras de Callanish nem sempre estiveram tão visíveis. Durante séculos foram também semi-engolidas pela turfa, como tudo o resto. Provavelmente, o facto do círculo ter ficado menos exposto durante a época do fanatismo religioso salvou-o mais uma vez. E hoje aí estão elas, em plena luz, protegidas pela lei e cultuadas como ícone turístico, a fazer manguitos ao tempo. Os deuses venceram. |
22.7.07
Aignish
| ||
Crónica das Hébridas - 4
Meninos, hoje guiei pela esquerda! Num carro com o volante ao contrário, ignição do lado da porta e a caixa de velocidades ao meio, tal como as nossas, só que neste é preciso lembrar-me que a mão que lá mexe é a outra (senão lá vai mais uma estalada na porta), e menos mal que os pedais estão todos no sítio certo. E depois, bom, é como estar a ver tudo num espelho. Andar para a frente é canja, já fazer as curvas dentro da mão tem algo que se lhe diga, que a tendência é logo chegar o carro prá direita, e quanto às rotundas, bem, nem me atrevi a pegar no volante antes de lá chegarmos, senão é que ia ser o fim da macacada. Da primeira vez que lá passámos, lembro-me que me agarrei ao assento e até os cabelos se me devem ter eriçado. Mesmo agora, a passar por lá todos os dias, ainda me faz uma confusão do caneco ver o trânsito a girar ao contrário e a usar acessos que eu nunca descobriria nem à segunda, quanto mais à primeira...
Quanto às estradas… bom, em Portugal, quando temos uma estrada secundaríssima, daquelas de terra batida, só com uma via, e de repente nos aparece um caramelo pela frente, um de nós tem de se enfiar na valeta e até a carroceria se encolhe para cabermos os dois. Aqui, alcatroaram as estradas mas nem se deram ao trabalho de acrescentar outra faixa; resolveram o problema fazendo umas maminhas ao longo do caminho, com o sinal de “passage place”, que é como quem diz, quando aparece o tal caramelo em sentido contrário, o que tiver a maminha mais próxima do seu lado encosta ali e deixa o outro passar.
Ah, e por aqui os sinais de trânsito têm legendas, como “give way” quando a prioridade é dos outros, ou “blind summit” se há uma lomba, o que deve ser porreiro para os putos que estão a tirar a carta; com a papinha assim toda feita, deve ser preciso ser mesmo muita burro pra chumbar no exame.
A minha comunicação com os indígenas tem vindo a melhorar. Já começo a apanhar as nuances do sotaque e a habituar-me a traduzir rapidamente alguns sons esquisitos pelas letras certas, ainda que de vez em quando me aconteçam alguns incidentes, como hoje, quando eu disse que ia ao supermercado e a Moira me pediu um pimento verde [green pepper], ao que eu percebi “um papel verde” [green paper] e fui à sala das fotocópias buscar um molhinho de folhas, sem perceber porque é que ela desatou à gargalhada.
Quanto a tudo o que é pequenino, esqueçam o que aprenderam nas aulas de inglês, que aqui não se usa o small, nem o little, nem o tiny – é tudo “wee”. Influência dos duendes…? [wee people]. E se a coisa for porreira, então é “lovely”, seja ela o jantar, o tempo, uma pessoa, a paisagem ou uma situação. Se traduzirmos à letra (amoroso) e entretanto tivermos um matulão ao lado a usar o termo constantemente, a conversa soa um tanto amaricada, mas enfim, é uma questão de hábito.
Claro que para eles eu também tenho um palavreado bestiamente estranho; além da ferrugem na língua, ainda me meto a inventá-las, como aqui há dias, em que só me vinha à cabeça “a praça da rotunda” e em vez de dizer “round about”, saiu-me a bela tradução à letra de “round square” ( = “praça redonda” mas também “quadrado redondo”), expressão que a partir daí passei a adoptar plenamente, rendida à genialidade surrealista destas traduções.
Mas quando não sei peço ajuda, claro, como quando estava à procura de uma palavra para “friorenta” e perguntei “como se chama a uma pessoa que está sempre fria?” “Uma mulher”, respondeu a Moira.
Piadas à parte, o facto é que afinal isto não está tudo super-aquecido, como toda a gente me dizia quando eu estava a fazer a mala, talvez porque os meus conselheiros fossem todos meninos que só estiveram em Londres, ou porque eu é que sou mesmo uma friorenta do caneco e vou logo buscar o casaco mal o termómetro desce abaixo dos 20. Se continuar por aqui mais uns tempos, acho que vou ter de sair de casa enrolada num edredon. Quanto aos indígenas, perfeitamente adaptados ao clima depois de uma série de gerações de celtas e vikings e gajos rijos, é vê-los por aí de manguinhas curtas e sandálias, como se não fosse nada com eles.
Acompanhando os nativos nas suas deambulações, dou-me conta de que isto é realmente um meio muito pequeno, onde toda a gente se conhece e se cumprimenta constantemente. Como todos os meios pequenos, o prato do dia é falar da vida alheia. Mas a cusca tem algumas vantagens. As terras altas e as ilhas da Escócia foram estatisticamente consideradas como os lugares mais seguros de todo o Reino Unido. E pelo que vejo, as ilhas devem ser praticamente à prova de ladrão. A Chrisella tem um belo jipe, novinho e lustroso, que nem precisa de trancar – como a estas alturas já toda a gente sabe que ela tem um jipe e lhe diz adeus quando a vê passar, se um malandro qualquer se aproveitasse da porta aberta e tentasse fugir com ele, o pessoal ia começar por achar muito estranho (mas quem é aquele manjerico a guiar o jipe da Chrisella?) e a seguir, mal se soubesse que tinha sido roubado, o meliante seria caçado num instante e provavelmente ainda levava uns bons muquecos. Mas nenhum ladrão é assim tão parvo; os carros só conseguem sair da ilha pelo ferry boat e é preciso ter os papéis em ordem para os embarcar. Quanto a desmanchá-los e passar as peças aos poucos, com os limites de bagagem e o preço dos bilhetes ficaria tão caro que mais valia comprar um novo no stand.
Os efeitos da cusca têm muitas facetas, umas melhores do que outras. A falta de privacidade é talvez a mais chata e pode atrapalhar bastante, como no caso da recente abertura de uma associação de alcoólicos anónimos aqui na ilha. Por muito que jurem manter segredo sobre quem estava a reunião, não sei como vão conseguir lá entrar sem ninguém dar por isso (“viste o MacCoiso?” “Sim sim, vi-o agora mesmo a entrar ali nos alcoólicos anónimos”). Será que têm uma porta nas traseiras?
Mas tem facetas óptimas, como quando o único radar de velocidade da polícia local teve uma avaria e tiveram de o mandar arranjar em Edinburgh… Eles bem que continuaram a fazer de conta que estavam a controlar os aceleras, mas como já toda a malta sabia que era só bluff, passavam na broa pela frente deles e ainda aproveitavam pra fazer caretas.
Muito falado na semana passada foi o caso de uma miudinha de 14 anos que se pisgou de casa com um canastrão de 46 (baixote, gordo, feio, óculos tipo vitrine, e assim ficou provado que há mesmo gostos pra tudo). Mas o mais bizarro é que, como eles queriam passar despercebidos, resolveram fugir para a Escócia. Se tivessem ficado em Londres, misturados com a maralha, talvez conseguissem ganhar tempo até haver menos controle e poderem sair do país, mas na Escócia, onde qualquer estranho que aparece fica logo debaixo de olho, é claro que foram logo agarrados. O gajo, além de feio, ainda por cima é burro. Realmente, não sei lá o que é que a miúda viu naquilo…
Muito comentado também foi a edição de um dicionário de gaélico com palavras novas (até agora usavam as do inglês para o efeito), The New English-Gaelic Dictionary, pelo Prof. Derick S. Thomson. É claro que as minhas colegas fizeram o que toda a gente faz quando pega num dicionário novo: foram à procura dos palavrões. E quanto a isso, este senhor parece ter ideias muito estranhas sobre o sexo e traduz expressões como fuck (suponho que ninguém precisa da tradução em português) por “pôr-se por cima de alguém” ou masturbação como “pressionar-se a si mesmo com o dedo” (!!!) Como podem calcular, esta da masturbação deu brado e toda a gente gostava de saber como é que o Professor Thomson terá chegado a uma descrição destas. Dada a óbvia inutilidade das palavras novas, as minhas colegas discutiam ao almoço qual seria a palavra mais lógica que se deveria usar. E então perguntaram-me a mim como se dizia lá na minha terra. “Masturbação é como em inglês, praticamente é só uma questão de pronúncia” – e disse a palavra devagar para elas perceberem. Pois, não servia. “Então e se for em palavrão?” Um tanto relutante, lá disse “punheta”, à espera que ninguém fosse capaz de reproduzir aquilo, mas contra todas as minhas expectativas, além de gramarem o termo, desataram logo a repetir umas para as outras para afinarem o sotaque (e mesmo a esconder a cabeça debaixo da mesa, posso garantir que ficou perfeito). Como depois era preciso dar-lhe um ar mais gaélico, a palavra acabou por ficar estabelecida como “punhetaroc”. E foi assim que eu dei a minha contribuição para o vocabulário local. Se por acaso a coisa pega, tou pra ver, daqui a uns anos os linguistas todos a tentarem explicar a origem do termo.Ontem, para mostrar as habilidades, despedi-me da Chrisella e do marido com um “boa noite” em gaélico. “Eïche vá!” (oidhche mhath) – disse eu. “Punheta” – responderam eles; mas afinal, é a única palavra que sabem dizer na minha língua.
Quanto às estradas… bom, em Portugal, quando temos uma estrada secundaríssima, daquelas de terra batida, só com uma via, e de repente nos aparece um caramelo pela frente, um de nós tem de se enfiar na valeta e até a carroceria se encolhe para cabermos os dois. Aqui, alcatroaram as estradas mas nem se deram ao trabalho de acrescentar outra faixa; resolveram o problema fazendo umas maminhas ao longo do caminho, com o sinal de “passage place”, que é como quem diz, quando aparece o tal caramelo em sentido contrário, o que tiver a maminha mais próxima do seu lado encosta ali e deixa o outro passar.
Ah, e por aqui os sinais de trânsito têm legendas, como “give way” quando a prioridade é dos outros, ou “blind summit” se há uma lomba, o que deve ser porreiro para os putos que estão a tirar a carta; com a papinha assim toda feita, deve ser preciso ser mesmo muita burro pra chumbar no exame.
A minha comunicação com os indígenas tem vindo a melhorar. Já começo a apanhar as nuances do sotaque e a habituar-me a traduzir rapidamente alguns sons esquisitos pelas letras certas, ainda que de vez em quando me aconteçam alguns incidentes, como hoje, quando eu disse que ia ao supermercado e a Moira me pediu um pimento verde [green pepper], ao que eu percebi “um papel verde” [green paper] e fui à sala das fotocópias buscar um molhinho de folhas, sem perceber porque é que ela desatou à gargalhada.
Quanto a tudo o que é pequenino, esqueçam o que aprenderam nas aulas de inglês, que aqui não se usa o small, nem o little, nem o tiny – é tudo “wee”. Influência dos duendes…? [wee people]. E se a coisa for porreira, então é “lovely”, seja ela o jantar, o tempo, uma pessoa, a paisagem ou uma situação. Se traduzirmos à letra (amoroso) e entretanto tivermos um matulão ao lado a usar o termo constantemente, a conversa soa um tanto amaricada, mas enfim, é uma questão de hábito.
Claro que para eles eu também tenho um palavreado bestiamente estranho; além da ferrugem na língua, ainda me meto a inventá-las, como aqui há dias, em que só me vinha à cabeça “a praça da rotunda” e em vez de dizer “round about”, saiu-me a bela tradução à letra de “round square” ( = “praça redonda” mas também “quadrado redondo”), expressão que a partir daí passei a adoptar plenamente, rendida à genialidade surrealista destas traduções.
Mas quando não sei peço ajuda, claro, como quando estava à procura de uma palavra para “friorenta” e perguntei “como se chama a uma pessoa que está sempre fria?” “Uma mulher”, respondeu a Moira.
Piadas à parte, o facto é que afinal isto não está tudo super-aquecido, como toda a gente me dizia quando eu estava a fazer a mala, talvez porque os meus conselheiros fossem todos meninos que só estiveram em Londres, ou porque eu é que sou mesmo uma friorenta do caneco e vou logo buscar o casaco mal o termómetro desce abaixo dos 20. Se continuar por aqui mais uns tempos, acho que vou ter de sair de casa enrolada num edredon. Quanto aos indígenas, perfeitamente adaptados ao clima depois de uma série de gerações de celtas e vikings e gajos rijos, é vê-los por aí de manguinhas curtas e sandálias, como se não fosse nada com eles.
Acompanhando os nativos nas suas deambulações, dou-me conta de que isto é realmente um meio muito pequeno, onde toda a gente se conhece e se cumprimenta constantemente. Como todos os meios pequenos, o prato do dia é falar da vida alheia. Mas a cusca tem algumas vantagens. As terras altas e as ilhas da Escócia foram estatisticamente consideradas como os lugares mais seguros de todo o Reino Unido. E pelo que vejo, as ilhas devem ser praticamente à prova de ladrão. A Chrisella tem um belo jipe, novinho e lustroso, que nem precisa de trancar – como a estas alturas já toda a gente sabe que ela tem um jipe e lhe diz adeus quando a vê passar, se um malandro qualquer se aproveitasse da porta aberta e tentasse fugir com ele, o pessoal ia começar por achar muito estranho (mas quem é aquele manjerico a guiar o jipe da Chrisella?) e a seguir, mal se soubesse que tinha sido roubado, o meliante seria caçado num instante e provavelmente ainda levava uns bons muquecos. Mas nenhum ladrão é assim tão parvo; os carros só conseguem sair da ilha pelo ferry boat e é preciso ter os papéis em ordem para os embarcar. Quanto a desmanchá-los e passar as peças aos poucos, com os limites de bagagem e o preço dos bilhetes ficaria tão caro que mais valia comprar um novo no stand.
Os efeitos da cusca têm muitas facetas, umas melhores do que outras. A falta de privacidade é talvez a mais chata e pode atrapalhar bastante, como no caso da recente abertura de uma associação de alcoólicos anónimos aqui na ilha. Por muito que jurem manter segredo sobre quem estava a reunião, não sei como vão conseguir lá entrar sem ninguém dar por isso (“viste o MacCoiso?” “Sim sim, vi-o agora mesmo a entrar ali nos alcoólicos anónimos”). Será que têm uma porta nas traseiras?
Mas tem facetas óptimas, como quando o único radar de velocidade da polícia local teve uma avaria e tiveram de o mandar arranjar em Edinburgh… Eles bem que continuaram a fazer de conta que estavam a controlar os aceleras, mas como já toda a malta sabia que era só bluff, passavam na broa pela frente deles e ainda aproveitavam pra fazer caretas.
Muito falado na semana passada foi o caso de uma miudinha de 14 anos que se pisgou de casa com um canastrão de 46 (baixote, gordo, feio, óculos tipo vitrine, e assim ficou provado que há mesmo gostos pra tudo). Mas o mais bizarro é que, como eles queriam passar despercebidos, resolveram fugir para a Escócia. Se tivessem ficado em Londres, misturados com a maralha, talvez conseguissem ganhar tempo até haver menos controle e poderem sair do país, mas na Escócia, onde qualquer estranho que aparece fica logo debaixo de olho, é claro que foram logo agarrados. O gajo, além de feio, ainda por cima é burro. Realmente, não sei lá o que é que a miúda viu naquilo…
Muito comentado também foi a edição de um dicionário de gaélico com palavras novas (até agora usavam as do inglês para o efeito), The New English-Gaelic Dictionary, pelo Prof. Derick S. Thomson. É claro que as minhas colegas fizeram o que toda a gente faz quando pega num dicionário novo: foram à procura dos palavrões. E quanto a isso, este senhor parece ter ideias muito estranhas sobre o sexo e traduz expressões como fuck (suponho que ninguém precisa da tradução em português) por “pôr-se por cima de alguém” ou masturbação como “pressionar-se a si mesmo com o dedo” (!!!) Como podem calcular, esta da masturbação deu brado e toda a gente gostava de saber como é que o Professor Thomson terá chegado a uma descrição destas. Dada a óbvia inutilidade das palavras novas, as minhas colegas discutiam ao almoço qual seria a palavra mais lógica que se deveria usar. E então perguntaram-me a mim como se dizia lá na minha terra. “Masturbação é como em inglês, praticamente é só uma questão de pronúncia” – e disse a palavra devagar para elas perceberem. Pois, não servia. “Então e se for em palavrão?” Um tanto relutante, lá disse “punheta”, à espera que ninguém fosse capaz de reproduzir aquilo, mas contra todas as minhas expectativas, além de gramarem o termo, desataram logo a repetir umas para as outras para afinarem o sotaque (e mesmo a esconder a cabeça debaixo da mesa, posso garantir que ficou perfeito). Como depois era preciso dar-lhe um ar mais gaélico, a palavra acabou por ficar estabelecida como “punhetaroc”. E foi assim que eu dei a minha contribuição para o vocabulário local. Se por acaso a coisa pega, tou pra ver, daqui a uns anos os linguistas todos a tentarem explicar a origem do termo.Ontem, para mostrar as habilidades, despedi-me da Chrisella e do marido com um “boa noite” em gaélico. “Eïche vá!” (oidhche mhath) – disse eu. “Punheta” – responderam eles; mas afinal, é a única palavra que sabem dizer na minha língua.
20.7.07
Paisagens e pedregulhos
|
Crónica das Hébridas - 3
Malta muito hospitaleira, é um facto. Logo na primeira noite em casa da minha colega enfiaram-me uma borracheira das boas, em que eu, muito naturalmente, colaborei apenas por uma questão de solidariedade com os meus anfitriões, claro.
A casa é tal e qual uma réplica das construções dos Sims. Para quem conhece o jogo, pode fazer uma ideia muito exacta do género de construção, do papel das paredes, da alcatifa e mesmo dos objectos. Quando ontem me falavam da vizinha que construiu uma sala de jogos com uma mesa de bilhar, um coiso de flippers, um bar e uma jukebox, pensei imediatamente que a boneca já conseguiu juntar simoleons suficientes para poder comprar mais objectos do jogo. Estão cá todos, inclusivamente os que faltam. Como o bidé, que aqui também ninguém tem nem sabe pra que serve, e depois ficam muito admirados para que raio é que eu de vez em quando levo uma cafeteira para a casa de banho. Admiram-se mas também não se atrevem a perguntar nada, como manda a educação britânica, apesar de ser perfeitamente normal comer directamente em cima da mesa, sem toalha nem guardanapo, e largar displicentemente um bruto arroto no final. Nada de importante; afinal é tudo malta porreira e ninguém é de cerimónia.
O marido da Moira, Ivor, tem um barco que é os seus encantos, herança do pai dele, e passa a vida na garagem a meter mais cola nas tábuas e a pulir o casco. Parentesis:
“Sabes tricotar?”, perguntou-me alguém antes de eu cá vir parar, já que, segundo o fulano, aqui nas Hébridas o pessoal ou anda na pesca ou faz camisolas de lã – ponto de vista limitado de um londrino que nem sabe lá muito bem onde é que isto fica. “Como eu suponho que não vais para lá apanhar peixe, o melhor é ires treinando o tricot…”
Fechando o parentesis: com efeito, na ilha o mar é inevitável. Esbarra-se com ele a cada volta da estrada. As povoações crescem ao longo da costa e toda a gente quer ter direito a um pedaço de vistas marítimas. Ter um barco na garagem, como o do Ivor, é como um lisboeta com uma bicicleta debaixo da cama: dá sempre jeito para um giro de fim de semana, com a aliciante adicional de se poder voltar do passeio com uns quantos carapaus no saco.
E em terra há as ovelhinhas, que também praticamente toda a gente tem. As ventanias são péssimas para as árvores poderem crescer, por isso a paisagem é feita de campos de pasto, cheios de ovelhas em cima, todas a produzir lã para as camisolas.
As aldeias muitas vezes não passam de dúzia e meia de vivendas de construção bastante curiosa, não tanto pelos materiais usados (paredes duplas em blocos de cimento com uma carapaça de reboco rugoso no exterior, cheio de pedrinhas minúsculas sobre uma base colorida), mas pela uniformidade dos feitios, como se houvesse um catálogo oficial da ilha, só com meia dúzia de modelos à escolha. Nada de exibicionismos ou inovações, nada que contraste com a casa do vizinho do lado, nem em cores nem em dimensões. São todas muito discretas, de um cinzento mais rosado ou mais amarelado ou mais esverdeado, mas daí não passa. É sem dúvida uma paisagem muito característica, mas cheira-me muito mais a receio da diferença do que a falta de imaginação.
Hoje atravessei mais um bocado de terra até chegar a uma outra margem, com mais casinhas à beira mar e desertos alagados no interior, onde nem as ovelhas pastam. A Moira levou-me a ver os calhaus. Não há antas nem menires, poucos aqui sabem sequer o que isso seja, mas em compensação há carradas de alinhamentos circulares. Nesta quinta-feira anunciaram a descoberta de mais outro, perto do maior círculo conhecido encontrado até hoje aqui nas ilhas. Provavelmente haverá mais, já que os calhaus têm aparecido em pontos estratégicos, de onde se podem ver uns aos outros, como partes de uma grande rede. É quase impossível ter uma imagem próxima do que seria esta paisagem durante a idade do bronze, mas só a ideia de uma ilha semeada de pedregulhos erguidos já impressiona. E se não os vemos todos agora é porque estão partidos ou enterrados na turfa. Séculos e séculos de sedimentos de plantas rasteiras que vão nascendo em cima das progenitoras já podres, adubadas com caganitas de carneiro das ilhas, e assim sucessivamente, em renovadas camadas de pasto e de bosta. A terra cresceu, literalmente, e engoliu os calhaus, povoações inteiras, restos de passado. Num terreno destes, às vezes basta cavar um buraco no quintal e lá vem brinde.
Aos saltos pelo meio das poias e dos calhaus, e as ovelhas todas a fugir com injúrias barregadas, cheguei ao cimo de uma colina onde em tempos levantaram um destes círculos. Um sítio alto e ventoso, de vistas enormes a toda a volta, onde com certeza as pedras erguidas pareceriam bicos de coroa. Agora é preciso lá estar para os ver. Já só restam as bases dos pilares e os pedaços espalhados no chão. O do meio, aparentemente uma coluna mais grossa, conservou-se um pouco mais, mas mesmo assim terá pouco mais de um metro de altura. As placas chamam-lhe Steinacleit e classificam-no como um monumento funerário. E aqui, desculpem lá, mas classificar um coiso circular, que ninguém sabe exactamente o que é, como um monumento funerário, só porque lá encontraram meia dúzia de ossitos e provavelmente uns caquinhos votivos, parece-me tão leviano como um extraterrestre que aqui chegasse, já depois de nos termos exterminado todos uns aos outros, e concluísse que as nossas igrejas eram monumentos funerários porque havia túmulos lá dentro. Até pode ser que tenham todos muita razão, mas eu ainda não ‘tou nada convencida de que os avôzinhos do bronze tivessem tido uma trabalheira do caneco a acartar com pedrugulhos monstros, a arrumá-los todos de acordo com o alinhamento dos astros (o que implica vários anos de observaçôes), só para depois enterrarem os mortos lá no meio. Ná… Esta do “monumento funerário” é directamente proporcional ao diagnóstico da virose. Se um desgraçado aparece no médico com algum sintoma que não vem no livro, é porque apanhou uma virose (ou então é do stress, que também serve pra tudo).
Mais adiante, sem mais classificações do que uma placa a chamar-lhe “Truisel Stone” (ou Clach an Truiseil), há um enorme calhau no meio de uma povoação, com uma casa mesmo ao lado, onde em tempos deveriam estar os seus irmãozinhos. Do alinhamento original só sobreviveu um gigante, um pedregulho bestialmente matulão, até agora o mais alto de toda a Escócia, pelo menos enquanto não descascarem a turfa a mais uns quantos, como os tais que apareceram na semana passada. Pelo tamanho, alvitro que fosse o pilar central, ou pelo menos um dos centrais, já que o costume local era de construir vários círculos, raramente concêntricos, com os calhaus maiores a formar as linhas interiores. Ressalvo que isto sou eu nas minhas especulações; ainda não fiz os trabalhos de casa, não fui ler o que haverá na internet sobre Clach an Truiseil e a minha única fonte de informação é a Moira, que nunca foi muito dada a arqueologias e agora só me atura por estas encostas acima porque eu dou pulinhos de contente cada vez que vejo um pedregulho. Para ela e para o pessoal daqui, sempre foi uma pedra solitária. Quem está a imaginar círculos sou eu. De qualquer maneira, um só ou último sobrevivente, é um belo calhau, sobretudo para quem gosta de calhaus. Deve ter perto de seis metros de altura por um e tal de largo e é espalmado como uma laje, com o topo a direito (entretanto partido), nada que se pareça com os nossos pirilaus solitários (vulgo menires, pra quem não entendeu). Os pedregulhos daqui têm uma secção rectangular. Tentaram talhá-los lisos e regulares como bocados de parede e até admito (mais especulação minha) que tivesse havido intenção de lhes poderem pôr barrotes em cima; uma fila de blocos lisos está mesmo a pedir um remate, como um tecto ou umas traves horizontais. Acho que preciso mesmo de consultar os livrinhos que a Chrisella me prometeu, para saber se estou a delirar.
Calhaus à parte, outra das notícias da semana passada foi o avistamento de mais 36 tubarões a rondar a costa do que no ano passado pela mesma altura. No frigorífico da pensão havia um íman muito giro, com um tubarão de boca aberta e uma legenda a dizer “mandem mais turistas – os últimos estavam uma delicia”, mas tanto quanto dizem os nativos, é só uma piada, porque os tubarões daqui só comem plancton… se bem que eles também nunca falam nos mosquitos que mordem, portanto não sei lá muito bem se posso confiar nas informações destes gajos… Bom, como me convidaram para ir à pesca num barquinho a remos, fui tirar informações à internet e pois, com efeito parece que esta raça só come plancton, mas também lá diz que têm 12 metros de comprimento e pesam 3 toneladas, portanto, independentemente da dieta dos bichinhos, espero bem que nenhum se lembre de dar uma marrada no barquito, mesmo que depois diga que foi sem querer.
A casa é tal e qual uma réplica das construções dos Sims. Para quem conhece o jogo, pode fazer uma ideia muito exacta do género de construção, do papel das paredes, da alcatifa e mesmo dos objectos. Quando ontem me falavam da vizinha que construiu uma sala de jogos com uma mesa de bilhar, um coiso de flippers, um bar e uma jukebox, pensei imediatamente que a boneca já conseguiu juntar simoleons suficientes para poder comprar mais objectos do jogo. Estão cá todos, inclusivamente os que faltam. Como o bidé, que aqui também ninguém tem nem sabe pra que serve, e depois ficam muito admirados para que raio é que eu de vez em quando levo uma cafeteira para a casa de banho. Admiram-se mas também não se atrevem a perguntar nada, como manda a educação britânica, apesar de ser perfeitamente normal comer directamente em cima da mesa, sem toalha nem guardanapo, e largar displicentemente um bruto arroto no final. Nada de importante; afinal é tudo malta porreira e ninguém é de cerimónia.
O marido da Moira, Ivor, tem um barco que é os seus encantos, herança do pai dele, e passa a vida na garagem a meter mais cola nas tábuas e a pulir o casco. Parentesis:
“Sabes tricotar?”, perguntou-me alguém antes de eu cá vir parar, já que, segundo o fulano, aqui nas Hébridas o pessoal ou anda na pesca ou faz camisolas de lã – ponto de vista limitado de um londrino que nem sabe lá muito bem onde é que isto fica. “Como eu suponho que não vais para lá apanhar peixe, o melhor é ires treinando o tricot…”
Fechando o parentesis: com efeito, na ilha o mar é inevitável. Esbarra-se com ele a cada volta da estrada. As povoações crescem ao longo da costa e toda a gente quer ter direito a um pedaço de vistas marítimas. Ter um barco na garagem, como o do Ivor, é como um lisboeta com uma bicicleta debaixo da cama: dá sempre jeito para um giro de fim de semana, com a aliciante adicional de se poder voltar do passeio com uns quantos carapaus no saco.
E em terra há as ovelhinhas, que também praticamente toda a gente tem. As ventanias são péssimas para as árvores poderem crescer, por isso a paisagem é feita de campos de pasto, cheios de ovelhas em cima, todas a produzir lã para as camisolas.
As aldeias muitas vezes não passam de dúzia e meia de vivendas de construção bastante curiosa, não tanto pelos materiais usados (paredes duplas em blocos de cimento com uma carapaça de reboco rugoso no exterior, cheio de pedrinhas minúsculas sobre uma base colorida), mas pela uniformidade dos feitios, como se houvesse um catálogo oficial da ilha, só com meia dúzia de modelos à escolha. Nada de exibicionismos ou inovações, nada que contraste com a casa do vizinho do lado, nem em cores nem em dimensões. São todas muito discretas, de um cinzento mais rosado ou mais amarelado ou mais esverdeado, mas daí não passa. É sem dúvida uma paisagem muito característica, mas cheira-me muito mais a receio da diferença do que a falta de imaginação.
Hoje atravessei mais um bocado de terra até chegar a uma outra margem, com mais casinhas à beira mar e desertos alagados no interior, onde nem as ovelhas pastam. A Moira levou-me a ver os calhaus. Não há antas nem menires, poucos aqui sabem sequer o que isso seja, mas em compensação há carradas de alinhamentos circulares. Nesta quinta-feira anunciaram a descoberta de mais outro, perto do maior círculo conhecido encontrado até hoje aqui nas ilhas. Provavelmente haverá mais, já que os calhaus têm aparecido em pontos estratégicos, de onde se podem ver uns aos outros, como partes de uma grande rede. É quase impossível ter uma imagem próxima do que seria esta paisagem durante a idade do bronze, mas só a ideia de uma ilha semeada de pedregulhos erguidos já impressiona. E se não os vemos todos agora é porque estão partidos ou enterrados na turfa. Séculos e séculos de sedimentos de plantas rasteiras que vão nascendo em cima das progenitoras já podres, adubadas com caganitas de carneiro das ilhas, e assim sucessivamente, em renovadas camadas de pasto e de bosta. A terra cresceu, literalmente, e engoliu os calhaus, povoações inteiras, restos de passado. Num terreno destes, às vezes basta cavar um buraco no quintal e lá vem brinde.
Aos saltos pelo meio das poias e dos calhaus, e as ovelhas todas a fugir com injúrias barregadas, cheguei ao cimo de uma colina onde em tempos levantaram um destes círculos. Um sítio alto e ventoso, de vistas enormes a toda a volta, onde com certeza as pedras erguidas pareceriam bicos de coroa. Agora é preciso lá estar para os ver. Já só restam as bases dos pilares e os pedaços espalhados no chão. O do meio, aparentemente uma coluna mais grossa, conservou-se um pouco mais, mas mesmo assim terá pouco mais de um metro de altura. As placas chamam-lhe Steinacleit e classificam-no como um monumento funerário. E aqui, desculpem lá, mas classificar um coiso circular, que ninguém sabe exactamente o que é, como um monumento funerário, só porque lá encontraram meia dúzia de ossitos e provavelmente uns caquinhos votivos, parece-me tão leviano como um extraterrestre que aqui chegasse, já depois de nos termos exterminado todos uns aos outros, e concluísse que as nossas igrejas eram monumentos funerários porque havia túmulos lá dentro. Até pode ser que tenham todos muita razão, mas eu ainda não ‘tou nada convencida de que os avôzinhos do bronze tivessem tido uma trabalheira do caneco a acartar com pedrugulhos monstros, a arrumá-los todos de acordo com o alinhamento dos astros (o que implica vários anos de observaçôes), só para depois enterrarem os mortos lá no meio. Ná… Esta do “monumento funerário” é directamente proporcional ao diagnóstico da virose. Se um desgraçado aparece no médico com algum sintoma que não vem no livro, é porque apanhou uma virose (ou então é do stress, que também serve pra tudo).
Mais adiante, sem mais classificações do que uma placa a chamar-lhe “Truisel Stone” (ou Clach an Truiseil), há um enorme calhau no meio de uma povoação, com uma casa mesmo ao lado, onde em tempos deveriam estar os seus irmãozinhos. Do alinhamento original só sobreviveu um gigante, um pedregulho bestialmente matulão, até agora o mais alto de toda a Escócia, pelo menos enquanto não descascarem a turfa a mais uns quantos, como os tais que apareceram na semana passada. Pelo tamanho, alvitro que fosse o pilar central, ou pelo menos um dos centrais, já que o costume local era de construir vários círculos, raramente concêntricos, com os calhaus maiores a formar as linhas interiores. Ressalvo que isto sou eu nas minhas especulações; ainda não fiz os trabalhos de casa, não fui ler o que haverá na internet sobre Clach an Truiseil e a minha única fonte de informação é a Moira, que nunca foi muito dada a arqueologias e agora só me atura por estas encostas acima porque eu dou pulinhos de contente cada vez que vejo um pedregulho. Para ela e para o pessoal daqui, sempre foi uma pedra solitária. Quem está a imaginar círculos sou eu. De qualquer maneira, um só ou último sobrevivente, é um belo calhau, sobretudo para quem gosta de calhaus. Deve ter perto de seis metros de altura por um e tal de largo e é espalmado como uma laje, com o topo a direito (entretanto partido), nada que se pareça com os nossos pirilaus solitários (vulgo menires, pra quem não entendeu). Os pedregulhos daqui têm uma secção rectangular. Tentaram talhá-los lisos e regulares como bocados de parede e até admito (mais especulação minha) que tivesse havido intenção de lhes poderem pôr barrotes em cima; uma fila de blocos lisos está mesmo a pedir um remate, como um tecto ou umas traves horizontais. Acho que preciso mesmo de consultar os livrinhos que a Chrisella me prometeu, para saber se estou a delirar.
Calhaus à parte, outra das notícias da semana passada foi o avistamento de mais 36 tubarões a rondar a costa do que no ano passado pela mesma altura. No frigorífico da pensão havia um íman muito giro, com um tubarão de boca aberta e uma legenda a dizer “mandem mais turistas – os últimos estavam uma delicia”, mas tanto quanto dizem os nativos, é só uma piada, porque os tubarões daqui só comem plancton… se bem que eles também nunca falam nos mosquitos que mordem, portanto não sei lá muito bem se posso confiar nas informações destes gajos… Bom, como me convidaram para ir à pesca num barquinho a remos, fui tirar informações à internet e pois, com efeito parece que esta raça só come plancton, mas também lá diz que têm 12 metros de comprimento e pesam 3 toneladas, portanto, independentemente da dieta dos bichinhos, espero bem que nenhum se lembre de dar uma marrada no barquito, mesmo que depois diga que foi sem querer.
18.7.07
Para quem quiser ver mais
um link que dá jeito para situar a coisa: http://www.undiscoveredscotland.co.uk/lewis/stornoway/index.html
Stornoway - Ilha de Lewis
|
Crónica das Hébridas - 2
Serão na pensão, já com um bloco de papel que não vale nem metade do que paguei por ele.
Afinal parece que os mosquitos que eu vi ao pé da água não são dos tais que mordem, e digo isto pela brilhante dedução da dona da pensão, a Norma, que me diz que “se não te morderam, então não eram eles”. Pelos vistos há por aqui várias raças de pintinhas voadoras.
E quanto às ovelhas, nada a fazer. Não é por timidez que não se deixam fotografar, nem por racismo que se afastam das estrangeiras que as tentam atrair com punhados de erva e piropos do género “anda cá minha linda cotonete…”; é porque são mesmo raça assustadiça e nesta época fogem de tudo o que mexe. Nesta época, pois, porque ainda segundo a Norma, a minha melhor fonte indígena até ao momento, no inverno é ao contrário. Como estão habituadas a que apareça o dono com a ração do dia, vêm atrás das pessoas sempre a ver se há mais comida (lambonas). Uma das pensionistas que por aqui passou foi ver os pedregulhos do neolítico na costa oeste e as ovelhas seguiram-na em bando até ao autocarro. A miúda bem fazia “chô! chô!”, mas qual chô… A preocupação dela era que alguém pensasse que estava a roubar as ovelhas… mas felizmente, apesar dos piores receios, as bichas não entraram atrás dela para dentro do autocarro.
Mas se a rapariga tivesse ido passear de carro, poderia não ter melhor sorte. Os donos das ovelhas deixam-nas à solta no campo e quando levam a comida chamam-nas com a buzina. Como elas não têm grande ouvido para a música, quando ouvem as buzinas dos outros automóveis pensam que vem lá mais ração. E assim, os turistas bem que apitam a ver se elas desimpedem a estrada, mas em vez disso, cada vez vêm mais, todas bestialmente impacientes, a pensar que as estão a chamar para o almoço. Ah sim, o inverno por aqui deve ser um prato…
Felizmente, ou pelo menos para os meus idealismos, percebo que os ilhéus não são todos chapa-4, moldados pelos tais moralismos locais, e que tal como seria de esperar, também se enfrascam alegremente aos domingos, feriados e dias santos, com o stock de bebidas com que se abasteceram nos dias úteis. E pelo que me contam dos rigores do inverno, posso supor que isto seja tudo pessoal muito dado ao bicoque. Afinal são esoceses, raio, foram estes gajos que inventaram o wisky, não têm nada a ver com o bando de abjectos pregadores abstémios que andou por aí a espalhar cartazes pela cidade.
E depois, sejam ou não efeitos da graduação, o facto é que este pessoal é bestialmente hospitaleiro.
Depois de conferenciarem todas, as minhas novas colegas concordaram que não há alojamentos baratos aqui na ilha e que portanto o melhor era levarem-me para casa delas, uma de cada vez, “e ai que divertido que vai ser, com o marido e os meninos e o cão e as galinhas” (dizem elas, enquanto eu, com a minha timidez crónica, começo logo à procura de um buraco para me esconder), e entretanto há uma que me quer levar para os copos no sábado e outra que me vai levar à pesca dos caranguejos no domingo, e com um calendário destes, a ver se não tou c’uma bruta ressaca, senão nem pra isco vou prestar.
“Safe place, nice people”, como me dizia alguém por e-mail aqui há dois meses atrás, quando eu ainda hesitava em vir. Se eu os entendesse melhor (e eles a mim…) talvez fosse perfeito.
Até agora sempre achei que é muito mais fácil entender um escocês do que um inglês, porque o escocês pronuncia as letras todas. Mas o raças do sotaque dos ilhéus é bestialmente cerrado, com umas entoações que lembram o sueco, e nem eles parecem entender facilmente um inglês de Londres – e quanto ao londrino, coitado, se já acha que o sotaque escocês é difícil, quando ouve estes gajos não entende um boi.
Só um exemplo: há uma semana atrás, a secretária do MacLean, toda prestável ao telefone, ofereceu-se para me procurar um sítio onde dormir e às tantas perguntou-me se eu sempre ia trazer o “cait”. “O quê? …o meu carro [car]?” – e pensei que depois da conversa com o MacLean, em que ele me tinha aconselhado a trazer o meu rodinhas, porque sem rodinhas nesta ilha ninguém chega a lado nenhum, ele tivesse ficado convencido de que eu ia mesmo arriscar-me a atravessar quatro países e dois paralelos com um Renault 5 de 88. “Não, o cait”, insistia ela lá do outro lado, “o animal… não tens um cait? O Malky (o Malky é o patrão) falou-me num cait.” “Aaaah… claro, pois, eu falei ao Malky no cait, mas entretanto já arrangei uma cait-sitter para me tomar conta da fera…” e assim de repente estava-me a esquecer que até nas Hébridas já ouviram falar no meu gato [cat].
A conversa das minhas colegas é uma coisa surrealista. A meio das frases passam do inglês-ilhéu para o gaélico, exactamente à mesma velocidade, e volta e meia usam palavras de uma e de outra língua intercaladas ao acaso; suponho que deve sair a que se lembram primeiro, completamente nas tintas para a coerência do código. A verdadeira salada das Hébridas…
E a propósito de salada, ainda uma nota sobre o que se come por estas bandas: bom, fundamentalmente é batatas. Toda a gente as cultiva no quintal e a maior parte tem um corpinho que evidencia bem a qualidade da dieta. Mas também comem coisinhas leves como a salada, onde usam ingredientes bastante curiosos, como uns tomatinhos pequeninos, do tamanho de berlindes, muito parecidos com os frutos de um arbusto que eu tive no quintal e que sempre tiveram fama de venenosos (má língua), mais umas ervas escuras e carnudas, a puxar para o vermelho, assim como um espinafre com ferrugem, e serralhas, pois, aquela coisa que se dá aos coelhos, e se não são serralhas são as primas delas, que a pinta é tal e qual. E depois, quando eu perguntei muito interessada, com uma folhinha na ponta do garfo, “ena, isto é muito bom, o que é?”, respondeu-me a autora do prato “ah, também não sei, mas ali o meu quintal está cheio disso…” Suponho que o critério deve ser “se é verde, papa-se”. E foi assim que eu passei a dar toda a razão aos coelhos.
Afinal parece que os mosquitos que eu vi ao pé da água não são dos tais que mordem, e digo isto pela brilhante dedução da dona da pensão, a Norma, que me diz que “se não te morderam, então não eram eles”. Pelos vistos há por aqui várias raças de pintinhas voadoras.
E quanto às ovelhas, nada a fazer. Não é por timidez que não se deixam fotografar, nem por racismo que se afastam das estrangeiras que as tentam atrair com punhados de erva e piropos do género “anda cá minha linda cotonete…”; é porque são mesmo raça assustadiça e nesta época fogem de tudo o que mexe. Nesta época, pois, porque ainda segundo a Norma, a minha melhor fonte indígena até ao momento, no inverno é ao contrário. Como estão habituadas a que apareça o dono com a ração do dia, vêm atrás das pessoas sempre a ver se há mais comida (lambonas). Uma das pensionistas que por aqui passou foi ver os pedregulhos do neolítico na costa oeste e as ovelhas seguiram-na em bando até ao autocarro. A miúda bem fazia “chô! chô!”, mas qual chô… A preocupação dela era que alguém pensasse que estava a roubar as ovelhas… mas felizmente, apesar dos piores receios, as bichas não entraram atrás dela para dentro do autocarro.
Mas se a rapariga tivesse ido passear de carro, poderia não ter melhor sorte. Os donos das ovelhas deixam-nas à solta no campo e quando levam a comida chamam-nas com a buzina. Como elas não têm grande ouvido para a música, quando ouvem as buzinas dos outros automóveis pensam que vem lá mais ração. E assim, os turistas bem que apitam a ver se elas desimpedem a estrada, mas em vez disso, cada vez vêm mais, todas bestialmente impacientes, a pensar que as estão a chamar para o almoço. Ah sim, o inverno por aqui deve ser um prato…
Felizmente, ou pelo menos para os meus idealismos, percebo que os ilhéus não são todos chapa-4, moldados pelos tais moralismos locais, e que tal como seria de esperar, também se enfrascam alegremente aos domingos, feriados e dias santos, com o stock de bebidas com que se abasteceram nos dias úteis. E pelo que me contam dos rigores do inverno, posso supor que isto seja tudo pessoal muito dado ao bicoque. Afinal são esoceses, raio, foram estes gajos que inventaram o wisky, não têm nada a ver com o bando de abjectos pregadores abstémios que andou por aí a espalhar cartazes pela cidade.
E depois, sejam ou não efeitos da graduação, o facto é que este pessoal é bestialmente hospitaleiro.
Depois de conferenciarem todas, as minhas novas colegas concordaram que não há alojamentos baratos aqui na ilha e que portanto o melhor era levarem-me para casa delas, uma de cada vez, “e ai que divertido que vai ser, com o marido e os meninos e o cão e as galinhas” (dizem elas, enquanto eu, com a minha timidez crónica, começo logo à procura de um buraco para me esconder), e entretanto há uma que me quer levar para os copos no sábado e outra que me vai levar à pesca dos caranguejos no domingo, e com um calendário destes, a ver se não tou c’uma bruta ressaca, senão nem pra isco vou prestar.
“Safe place, nice people”, como me dizia alguém por e-mail aqui há dois meses atrás, quando eu ainda hesitava em vir. Se eu os entendesse melhor (e eles a mim…) talvez fosse perfeito.
Até agora sempre achei que é muito mais fácil entender um escocês do que um inglês, porque o escocês pronuncia as letras todas. Mas o raças do sotaque dos ilhéus é bestialmente cerrado, com umas entoações que lembram o sueco, e nem eles parecem entender facilmente um inglês de Londres – e quanto ao londrino, coitado, se já acha que o sotaque escocês é difícil, quando ouve estes gajos não entende um boi.
Só um exemplo: há uma semana atrás, a secretária do MacLean, toda prestável ao telefone, ofereceu-se para me procurar um sítio onde dormir e às tantas perguntou-me se eu sempre ia trazer o “cait”. “O quê? …o meu carro [car]?” – e pensei que depois da conversa com o MacLean, em que ele me tinha aconselhado a trazer o meu rodinhas, porque sem rodinhas nesta ilha ninguém chega a lado nenhum, ele tivesse ficado convencido de que eu ia mesmo arriscar-me a atravessar quatro países e dois paralelos com um Renault 5 de 88. “Não, o cait”, insistia ela lá do outro lado, “o animal… não tens um cait? O Malky (o Malky é o patrão) falou-me num cait.” “Aaaah… claro, pois, eu falei ao Malky no cait, mas entretanto já arrangei uma cait-sitter para me tomar conta da fera…” e assim de repente estava-me a esquecer que até nas Hébridas já ouviram falar no meu gato [cat].
A conversa das minhas colegas é uma coisa surrealista. A meio das frases passam do inglês-ilhéu para o gaélico, exactamente à mesma velocidade, e volta e meia usam palavras de uma e de outra língua intercaladas ao acaso; suponho que deve sair a que se lembram primeiro, completamente nas tintas para a coerência do código. A verdadeira salada das Hébridas…
E a propósito de salada, ainda uma nota sobre o que se come por estas bandas: bom, fundamentalmente é batatas. Toda a gente as cultiva no quintal e a maior parte tem um corpinho que evidencia bem a qualidade da dieta. Mas também comem coisinhas leves como a salada, onde usam ingredientes bastante curiosos, como uns tomatinhos pequeninos, do tamanho de berlindes, muito parecidos com os frutos de um arbusto que eu tive no quintal e que sempre tiveram fama de venenosos (má língua), mais umas ervas escuras e carnudas, a puxar para o vermelho, assim como um espinafre com ferrugem, e serralhas, pois, aquela coisa que se dá aos coelhos, e se não são serralhas são as primas delas, que a pinta é tal e qual. E depois, quando eu perguntei muito interessada, com uma folhinha na ponta do garfo, “ena, isto é muito bom, o que é?”, respondeu-me a autora do prato “ah, também não sei, mas ali o meu quintal está cheio disso…” Suponho que o critério deve ser “se é verde, papa-se”. E foi assim que eu passei a dar toda a razão aos coelhos.
Memorial das guerras mundiais
|
Crónica das Hébridas - 1
Eu cá no alto a escrever nas costas de uma conta de supermercado.
A primeira surpresa foram os números.
Para mim, a Primeira Guerra sempre foi conhecida como a de 14-18. Aqui, no memorial aos mortos das duas guerras mundiais, as datas aparecem escritas várias vezes, mas sempre como 14-19. Não que um ano faça muita diferença em questões de memória, mas quando se trata de uma guerra, qualquer dia a mais já é excessivo. E um ano é muitos dias. Acho que vou ter de rever a história.
Vim até aqui atraída pela torre. Vi-a de longe e meti-me a caminho, em voltas complicadas pelo meio de um campo de golfe, à procura da estrada certa, a tentar convencer-me de que não devia faltar muito (mas afinal faltava, ufff…). E agora que cheguei, confesso que fiquei um tanto desapontada por ver que afinal é uma coisa recente. A silhueta lembra muito as fotografias que vi do Thor de Glastonbury, mas esta é uma construção do século XX, feita entre guerras, quando ainda não faziam ideia de que o memorial ia voltar a servir para mais um montão de mortos próximos. Acrescentaram então um círculo de pedras aos pés da torre, com uns banquinhos onde eu agora me instalei, e em cada pedra há uma lista de nomes de soldados da ilha, organizados por batalhão.
Outra frustração são as ovelhas, uns floquinhos lindos, mais pequenas do que as nossas, com a cara malhada de preto e uma lã bestialmente branquinha e fofinha: andam por aí a pastar mesmo à beira da estrada, mas dão aos cascos em alta velocidade sempre que me tento aproximar de máquina fotográfica em riste.
Mas o sítio é bestial. Não fossem alguns montinhos na paisagem e conseguia ter uma vista de 360 graus. Lá em baixo fica Stornoway, mais uma série de povoações dispersas de que não sei o nome, o mar ao fundo e a silhueta azul das montanhas da Escócia mais ao longe. Visto daqui, o recorte da costa, que quase parte o horizonte em dois, dá-me finalmente a sensação de estar numa ilha. Pode parecer estúpido, afinal aterrei aqui ontem e lá de cima deu pra ver perfeitamente em que sítio me estava a meter, mas depois, quando se chega a terra, há uma grande tendência para esquecer. Ainda esta manhã, à procura da única loja aberta ao domingo, a sensação era a de estar a passear ao longo de um porto de pesca, numa costa qualquer, sem a mínima noção de exiguidade.
Falo da sensação do ilhéu, do indígena atracado à ilha, que só tem o mar pra poder fugir da terra. Não sei se alguém já se lembrou de estudar qual é o limite territorial do bicho gente. Como vivemos em apartamentos, esquecemo-nos disso, mas de certeza que temos ainda um sentido dos limites. Um gato pode cobrir uma área de mais de 3 quilómetros quadrados, território marcado a que chama dele, portanto é natural que, em proporção ao tamanho, um homem precise de bem mais. Ou seja, é evidente que isto aqui não chega pra todos. Vista no mapa, a ilha começa por parecer grande, mas depois começamos a reparar que quase não há estradas e que as povoações são só no litoral. A seguir vamos ao turismo comprar um mapa bem grandão e percebemos porquê: o interior é só água. Uma rede de laguinhos, provavelmente pantanosos, um habitat perfeito para mosquitos e passarocos, mas impróprio para construção.
Parto, claro, do assumidíssimo preconceito de que os ilhéus são todos um tanto apanhadinhos, desejosos de fugirem para o continente sempre que têm oportunidade. Tal como os nossos. Até agora ainda só tive oportunidade de falar com o taxista que me trouxe do aeroporto e com a dona da pensão onde me instalei ( = pardieiro mais barato que encontrei). Não posso, portanto, fazer uma apreciação razoável do carácter dos indígenas, mas pelas queixas que ouço, parece-me que o sonho comum da rapaziada cá do sítio é poder cavar daqui pra fora.
Entre ontem e hoje ainda vi muito pouco. Assim que pude largar a mala, aproveitei para dar uma voltinha de reconhecimento pelo centro, até que os mosquitos acordaram ao fim da tarde e me atacaram como se eu fosse um prato exótico (miam!). Já me tinham falado neles, mas ninguém me avisou que eram canibais. Hoje, na minha caminhada até cá acima, passei pela borda de um riacho e vi-os lá todos, núvens de pontinhos voadores a ganhar apetite para a noite, talvez a combinar ementas e estratégias. Devo confessar que as ferroadas da véspera foram uma experiência interessante. De repente reformulei, à luz dos mosquitos, tudo o que eu li sobre a história destas terras, desde o tempo dos povos primitivos que andaram por aí a levantar calhaus. Imagino séculos e séculos de resistência aos mosquitos, numa batalha absolutamente inglória, porque ainda por cima ganharam eles. Esta noite, os meus colegas da pensão, três mergulhadores que vieram aos caranguejos, mostravam os braços cheios de ferroadas, ainda incrédulos pela falta de um repelente eficaz. Há dias que procuram nas farmácias e experimentam as receitas caseiras dos indígenas, mas nada resulta realmente. O pessoal daqui encara os mosquitos como um mal irremediável e já se resignou a servir-lhes de refeição. Mas para quem vem de fora, a impotência frente aos canibais voadores é uma enorme frustração.
Mas bem mais curiosas são as regras dos nativos.
Hoje de manhã estive a comprar yogurtes na loja da bomba de gasolina, aparentemente uma lojita de bomba como todas as que eu conheço, mas esta é a tal excomungada que se atreve a abrir ao domingo, entre as nove e o meio dia (nada de abusos) e só por isso já foi alvo de protestos à porta e incitações ao boicote, porque aqui dia santo é dia santo e portanto é proibido trabalhar. Nem os autocarros andam, nem barcos, nem coisa nenhuma, e quando o aeroporto abriu ao domingo foi uma escandaleira semelhante, com manifestações e direito a porrada e tudo, mas isso parece que foi por causa de uns quantos contras que apareceram por lá a bater palmas só pra chatear. Pois apesar de todo o revolucionarismo da lojita da bomba, há letreiros por todo o lado a avisar que “não vendemos bebidas alcoólicas ao domingo”. Assim mesmo. Montes de garrafas alinhadinhas nas prateleiras e o respectivo aviso por baixo. Ora esta… será que nesta terra é proibido encher os canecos ao domingo? (convém tirar esta a limpo antes que ainda me lixe). Até aposto que a venda de cervejas ao sábado deve subir que nem um foguete.
Já ontem tinha topado com uma placa em pleno centro da cidade, a avisar que são 500 libras de multa (+750 € – porra…) para quem for agarrado a beber álcool na rua. Ou seja, quanto a comprar uma latinha de cerveja e ir despachá-la para o porto, a ver passar os barquinhos, 'tá quieto.
Mais adiante havia uma montra cheia de traquitana para incentivar o pessoal a deixar de fumar, penduricalhos para os carros, autocolantes, T-shirts, calendários, dísticos a defender o projecto “ilha sem tabaco”, e mais uns cartazes a pedir voluntarios para ajudarem a acabar com a raça maldita dos fumadores (provavelmente precisarão de metralhadoras).
À vista disto, será então que os ilhéus se desgraçam nos vícios para escaparem à sensação de isolamento? Será essa a pancada deles? Ou isto será só a obra de um grupinho puritano com uma noção fundamentalista de comunidade ideal?
Sempre pensei que um grupo de pessoas a viver em cascos de rolha, afastado do cabresto de um governo que ficou lá na metrópole, tivesse no isolamento uma oportunidade bestial para subverter as regras, para criar uma comunidade com dimensões humanas, enfim, sempre pensei que seria uma óptima maneira do pessoal poder mijar fora do penico sem ninguém se incomodar com isso. Admito, ainda cheia de boas intenções, a querer acreditar na liberdade como uma das pulsões humanas (e no Pai Natal e na fada madrinha), que haverá aqui apenas a obra de algum tiranozinho de serviço, que ao ver as suas ovelhinhas em risco de se tresmalharem, tenta desesperado refrear qualquer veleidade com ameaças celestes e cartazes de proibição. A comunidade tem de ser mantida na linha, apertada nas regras como na geografia, senão isto fica uma balda.
Comentavam ontem os mergulhadores que aqui proíbem tudo o que seja divertido. Tabém são escoceses, pessoal de Edimburgo, mas parecem tão descolhoados como eu.
Aproveito o facto de estar sozinha para despachar o meu primeiro cigarrito. Vista daqui, a ilha é um sítio bonito, muito calmo, quase idílico, coisa própria para folheto turístico, desde que não se fale dos mosquitos nem dos tubarões. Aqui em cima, no meio da paz dos mortos das duas guerras, vejo a cidade lá em baixo, num absoluto silêncio dominical, e só me ocorre “ia mesmo bem uma bejeca, caraças – como é que raio se começa uma revolução?”
A primeira surpresa foram os números.
Para mim, a Primeira Guerra sempre foi conhecida como a de 14-18. Aqui, no memorial aos mortos das duas guerras mundiais, as datas aparecem escritas várias vezes, mas sempre como 14-19. Não que um ano faça muita diferença em questões de memória, mas quando se trata de uma guerra, qualquer dia a mais já é excessivo. E um ano é muitos dias. Acho que vou ter de rever a história.
Vim até aqui atraída pela torre. Vi-a de longe e meti-me a caminho, em voltas complicadas pelo meio de um campo de golfe, à procura da estrada certa, a tentar convencer-me de que não devia faltar muito (mas afinal faltava, ufff…). E agora que cheguei, confesso que fiquei um tanto desapontada por ver que afinal é uma coisa recente. A silhueta lembra muito as fotografias que vi do Thor de Glastonbury, mas esta é uma construção do século XX, feita entre guerras, quando ainda não faziam ideia de que o memorial ia voltar a servir para mais um montão de mortos próximos. Acrescentaram então um círculo de pedras aos pés da torre, com uns banquinhos onde eu agora me instalei, e em cada pedra há uma lista de nomes de soldados da ilha, organizados por batalhão.
Outra frustração são as ovelhas, uns floquinhos lindos, mais pequenas do que as nossas, com a cara malhada de preto e uma lã bestialmente branquinha e fofinha: andam por aí a pastar mesmo à beira da estrada, mas dão aos cascos em alta velocidade sempre que me tento aproximar de máquina fotográfica em riste.
Mas o sítio é bestial. Não fossem alguns montinhos na paisagem e conseguia ter uma vista de 360 graus. Lá em baixo fica Stornoway, mais uma série de povoações dispersas de que não sei o nome, o mar ao fundo e a silhueta azul das montanhas da Escócia mais ao longe. Visto daqui, o recorte da costa, que quase parte o horizonte em dois, dá-me finalmente a sensação de estar numa ilha. Pode parecer estúpido, afinal aterrei aqui ontem e lá de cima deu pra ver perfeitamente em que sítio me estava a meter, mas depois, quando se chega a terra, há uma grande tendência para esquecer. Ainda esta manhã, à procura da única loja aberta ao domingo, a sensação era a de estar a passear ao longo de um porto de pesca, numa costa qualquer, sem a mínima noção de exiguidade.
Falo da sensação do ilhéu, do indígena atracado à ilha, que só tem o mar pra poder fugir da terra. Não sei se alguém já se lembrou de estudar qual é o limite territorial do bicho gente. Como vivemos em apartamentos, esquecemo-nos disso, mas de certeza que temos ainda um sentido dos limites. Um gato pode cobrir uma área de mais de 3 quilómetros quadrados, território marcado a que chama dele, portanto é natural que, em proporção ao tamanho, um homem precise de bem mais. Ou seja, é evidente que isto aqui não chega pra todos. Vista no mapa, a ilha começa por parecer grande, mas depois começamos a reparar que quase não há estradas e que as povoações são só no litoral. A seguir vamos ao turismo comprar um mapa bem grandão e percebemos porquê: o interior é só água. Uma rede de laguinhos, provavelmente pantanosos, um habitat perfeito para mosquitos e passarocos, mas impróprio para construção.
Parto, claro, do assumidíssimo preconceito de que os ilhéus são todos um tanto apanhadinhos, desejosos de fugirem para o continente sempre que têm oportunidade. Tal como os nossos. Até agora ainda só tive oportunidade de falar com o taxista que me trouxe do aeroporto e com a dona da pensão onde me instalei ( = pardieiro mais barato que encontrei). Não posso, portanto, fazer uma apreciação razoável do carácter dos indígenas, mas pelas queixas que ouço, parece-me que o sonho comum da rapaziada cá do sítio é poder cavar daqui pra fora.
Entre ontem e hoje ainda vi muito pouco. Assim que pude largar a mala, aproveitei para dar uma voltinha de reconhecimento pelo centro, até que os mosquitos acordaram ao fim da tarde e me atacaram como se eu fosse um prato exótico (miam!). Já me tinham falado neles, mas ninguém me avisou que eram canibais. Hoje, na minha caminhada até cá acima, passei pela borda de um riacho e vi-os lá todos, núvens de pontinhos voadores a ganhar apetite para a noite, talvez a combinar ementas e estratégias. Devo confessar que as ferroadas da véspera foram uma experiência interessante. De repente reformulei, à luz dos mosquitos, tudo o que eu li sobre a história destas terras, desde o tempo dos povos primitivos que andaram por aí a levantar calhaus. Imagino séculos e séculos de resistência aos mosquitos, numa batalha absolutamente inglória, porque ainda por cima ganharam eles. Esta noite, os meus colegas da pensão, três mergulhadores que vieram aos caranguejos, mostravam os braços cheios de ferroadas, ainda incrédulos pela falta de um repelente eficaz. Há dias que procuram nas farmácias e experimentam as receitas caseiras dos indígenas, mas nada resulta realmente. O pessoal daqui encara os mosquitos como um mal irremediável e já se resignou a servir-lhes de refeição. Mas para quem vem de fora, a impotência frente aos canibais voadores é uma enorme frustração.
Mas bem mais curiosas são as regras dos nativos.
Hoje de manhã estive a comprar yogurtes na loja da bomba de gasolina, aparentemente uma lojita de bomba como todas as que eu conheço, mas esta é a tal excomungada que se atreve a abrir ao domingo, entre as nove e o meio dia (nada de abusos) e só por isso já foi alvo de protestos à porta e incitações ao boicote, porque aqui dia santo é dia santo e portanto é proibido trabalhar. Nem os autocarros andam, nem barcos, nem coisa nenhuma, e quando o aeroporto abriu ao domingo foi uma escandaleira semelhante, com manifestações e direito a porrada e tudo, mas isso parece que foi por causa de uns quantos contras que apareceram por lá a bater palmas só pra chatear. Pois apesar de todo o revolucionarismo da lojita da bomba, há letreiros por todo o lado a avisar que “não vendemos bebidas alcoólicas ao domingo”. Assim mesmo. Montes de garrafas alinhadinhas nas prateleiras e o respectivo aviso por baixo. Ora esta… será que nesta terra é proibido encher os canecos ao domingo? (convém tirar esta a limpo antes que ainda me lixe). Até aposto que a venda de cervejas ao sábado deve subir que nem um foguete.
Já ontem tinha topado com uma placa em pleno centro da cidade, a avisar que são 500 libras de multa (+750 € – porra…) para quem for agarrado a beber álcool na rua. Ou seja, quanto a comprar uma latinha de cerveja e ir despachá-la para o porto, a ver passar os barquinhos, 'tá quieto.
Mais adiante havia uma montra cheia de traquitana para incentivar o pessoal a deixar de fumar, penduricalhos para os carros, autocolantes, T-shirts, calendários, dísticos a defender o projecto “ilha sem tabaco”, e mais uns cartazes a pedir voluntarios para ajudarem a acabar com a raça maldita dos fumadores (provavelmente precisarão de metralhadoras).
À vista disto, será então que os ilhéus se desgraçam nos vícios para escaparem à sensação de isolamento? Será essa a pancada deles? Ou isto será só a obra de um grupinho puritano com uma noção fundamentalista de comunidade ideal?
Sempre pensei que um grupo de pessoas a viver em cascos de rolha, afastado do cabresto de um governo que ficou lá na metrópole, tivesse no isolamento uma oportunidade bestial para subverter as regras, para criar uma comunidade com dimensões humanas, enfim, sempre pensei que seria uma óptima maneira do pessoal poder mijar fora do penico sem ninguém se incomodar com isso. Admito, ainda cheia de boas intenções, a querer acreditar na liberdade como uma das pulsões humanas (e no Pai Natal e na fada madrinha), que haverá aqui apenas a obra de algum tiranozinho de serviço, que ao ver as suas ovelhinhas em risco de se tresmalharem, tenta desesperado refrear qualquer veleidade com ameaças celestes e cartazes de proibição. A comunidade tem de ser mantida na linha, apertada nas regras como na geografia, senão isto fica uma balda.
Comentavam ontem os mergulhadores que aqui proíbem tudo o que seja divertido. Tabém são escoceses, pessoal de Edimburgo, mas parecem tão descolhoados como eu.
Aproveito o facto de estar sozinha para despachar o meu primeiro cigarrito. Vista daqui, a ilha é um sítio bonito, muito calmo, quase idílico, coisa própria para folheto turístico, desde que não se fale dos mosquitos nem dos tubarões. Aqui em cima, no meio da paz dos mortos das duas guerras, vejo a cidade lá em baixo, num absoluto silêncio dominical, e só me ocorre “ia mesmo bem uma bejeca, caraças – como é que raio se começa uma revolução?”
Subscrever:
Comentários (Atom)