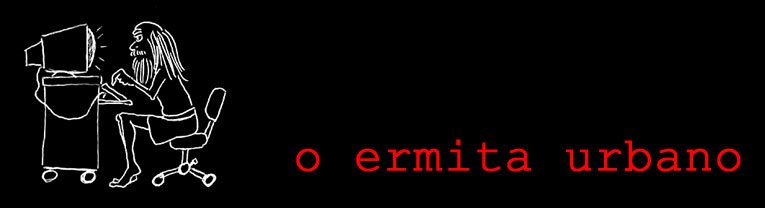(se clicarem na imagem vão ver que ela tem dentinhos)
30.10.07
26.10.07
Primeiras impressões (1988)
Não sei se por culpa dos filmes americanos ou pela cara dos nossos emigrantes, eu imaginava Paris como uma espécie de cidade-circo habitada por uma fauna fervilhante de boémios, costureiros famosos e intelectuais de barbicha, dispersos por um cenário megalómano, todo de néons e brilhos. Com o passar do tempo foram mudando os meus gostos em matéria de cinema, ao mesmo tempo que se ia acentuando em mim uma espécie de desprezo passivo pela malta que vem passar o mês de Agosto à santa terrinha cheio de ganas de exibir aquela cultura toda que adquiriu lá fora (“Micheliiiii... viens já ici à mãe!”)
"Lá a vida é a cores, enquanto que aqui é a preto e branco", disse-me alguém já não sei quando. Ficou-me a curiosidade, mas nem por isso me deixei impressionar.
E agora aqui estou eu. Então Paris é isto. Rodo sobre os calcanhares a olhar em volta. É limpo. Arrumadinho. Nem uma poia de cão para animar o ambiente. O ar é leve, às vezes com nuances que lembram cheiro de champô.
Seis e coiso da manhã. O meu amigo já saiu para trabalhar. Engoli o pequeno almoço e vim para a rua cheio de vontade de ver onde estou. Cheguei ontem à noite e ainda nem percebi exactamente onde é que entrei, já um tanto zonzo com o meu anfitrião tagarela sempre a enumerar instruções sobre o funcionamento da cidade e o trato com os indígenas desde a estação até aqui. Nos próximos dias ele começa as férias e então terei um cicerone para fazer a voltinha da praxe pelos monumentos, os museus, as putas da zona do Pigalle e tudo o mais que constar no roteiro turístico.
Mas agora sou só eu, numa cidade que nunca vi, em voltinha de reconhecimento, completamente por minha conta.
Assim de repente, a rua parece estar asséptica como um hospital. Será então a qualidade da limpeza que faz os emigrantes chegarem lá a Portugal com ar de quem se foi meter no meio dos porcos depois de terem vivido num palácio? Só dos contentores do lixo é que vem um cheiro pestilento, mas não é do lixo, é o cheiro do desinfectante amarelo que uma brigada de agentes de desinfecção, também amarelos, vai pulverizando com umas maquinetas um tanto suspeitas, que mais parecem armas alienígenas. Vêm vestidos de plástico, com cógulas, luvas e galochas, tudo amarelo, ao melhor estilo espacialo-folcórico. A avaliar por toda aquela protecção, a bodega amarela deve ser altamente tóxica. Aperto o nariz e passo rapidamente adiante.
Continuo o meu passeio. Sinto-me um parolo com os olhos bestialmente abertos, ávidos, como se tivesse medo de deixar escapar algum pormenor. Não sei porquê, mas talvez por causa desta neblina da manhã, desta luz ainda pouco nítida ou deste cheiro artificial com que a cidade acorda, tenho a impressão de estar a caminhar por um grande cenário, onde o som dos meus passos ao longo da alameda é bem mais real do que as fachadas dos edifícios onde eles ressoam. As casas são todas iguais. Prédios forrados de tijoleira vermelha com frisos de pedra branca a debruar as janelas, onde até as cortinas estão penduradas da mesma maneira em todos os andares. Cortinas brancas presas dos lados como as das casinhas que os putos desenham. E depois, todo o ambiente é leve e claro, onde o cinzento dos passeios não pesa e no asfalto negro nem se repara, sobretudo quando se é turista, porque os turistas andam sempre de nariz no ar. Os prédios vermelhos parecem feitos com peças de encaixar. Tudo tem um ar de coisa a fingir, de jogo de construções feito por um miúdo maníaco da simetria. A alameda podia ter sido feita na véspera, armada às pressas só para eu lá poder passar hoje. Imagino que são apenas fachadas, que por trás estão todas seguras por tábuas toscas cravadas no chão. Habituado aos contrastes de Lisboa, tamanha uniformidade chocalha-me os sentidos e acentua-se mais a consciência de estar no estrangeiro. E isso agrada-me porque se trata já de uma pequena vitória sobre o meu lado fleumático.
No passeio central da alameda há banquinhos de jardim onde bandos de velhos jogam às cartas e tagarelam com palavras estranhas de um dialecto só deles. Velhos vestidos de preto, com boinas enterradas até às sobrancelhas, como as dos franceses castiços que falam inglês de sotaque arranhado nos filmes americanos do tempo da guerra.
Aqui e ali, canteiros de sardinheiras e grandes jarrões de metal verde. Os canteiros são tão altos que quase me chegam à cintura. Segundo a explicação do meu amigo, quando vínhamos da estação na noite passada, é para as flores ficarem protegidas dos cães. E com efeito, cães é coisa que não falta por aqui. Caniches, sobretudo caniches, caniches de todas as cores e de todos os tamanhos, dos anões aos matulões, caniches tosquiados e caniches peludos, caniches ao natural e caniches de verniz nas unhas e laçarotes na cabeça, caneco, que nunca vi tanto caniche junto. E a estas horas matinais do pré-expediente, o pessoal que anda pela rua divide-se entre os fulanos em fato de treino que praticam o seu jogging e os fulanos de trela na mão que praticam o footing do caniche. Alguns juntam os dois exercícios e correm com o cão atrás, que os segue em passinhos curtos, saltitante, com as orelhas a bater. Mas apesar desta canzoada toda, reforça-se a minha ideia de que esta cidade é anti-cão.
Nos passeios, limpos e sem frestas, nem uma erva raquítica se atreve a despontar. Os canteiros, demasiado altos, também deixam tudo o que é verde fora do alcance do nariz de qualquer cão. Nada passível de ser tasquinhado. No fim da alameda há um jardim, mas mesmo esse está vedado. Na cancela há uma placa com a silhueta de um cão cortada por um xis a vermelho. Quer isto dizer que nem aí lhes dão hipótese de cheirarem árvores e terra. Penso no que será a vida desses cães de apartamento, que nunca esgravatam o chão, que nunca metem o dente numa coisa verde e viçosa, que nunca correm atrás dos pombos, que nem licença têm para farejar os outros – o último que tentou ia sendo estrafegado pela dona ali na outra esquina. Instinto censurado por trelas curtas e tensas, condenados a uma castração olfactiva. Uma vida de cão. Arrepio-me.
Mas logo a seguir lembro-me que me ensinaram no liceu que os franceses gostam de passear aos fins de semana, como qualquer europeu com semana inglesa (já que não faço a mínima ideia de quando é que os outros passeiam). O tal do Bois de Boulogne, pois claro, fartavam-se de falar nisso... E penso então que com certeza estes cães acompanharão os donos nesses passeios pelo meio das árvores. E que mesmo aqueles caniches impecáveis, de pêlo escovado e coleiras de strass irão rebolar na relva molhada, alçar a pata onde bem entenderem, com a satisfação funda de quem se vinga das mijas acanhadas na berma do passeio, encontrar outros e encher o nariz de cheiro a cão, chapinhar nas poças de água, correr feitos doidos, só por correr, só para sentir o corpo a funcionar como um corpo de cão. Ah sim, só esses fins de semana podem justificar aquela fleuma com que os caniches pisam o chão quando acompanham os donos naqueles passinhos miúdos e saltaricos, indiferentes a tudo. Só isso explica que suportem estoicamente aquelas tosquias atrozes, a comida enlatada, os dois passeios diários do regulamento. É que eles esperam pacientemente o fim de semana.
Deixando para trás o jardim do bairro-dormitório, encontro a zona das lojas. Aí estão elas, as primeiras montras cá do sítio. Saco do bolso a arma imprescindível para a defesa de qualquer turista com um nível de vida como o meu: a calculadora. Passo à acção. Vou fazendo o câmbio dos preços sempre a tentar manter o sangue frio, ainda que de vez em quando tenha de repetir as contas para ter mesmo a certeza de que não me enganei nem nada. Para não entrar em pânico, lembro-me que estou aqui de passagem e que, tirando a questão de ter de comer todos os dias, não vou precisar de comprar nada extra (claro que a esta altura já desisti dos souvenirs para a família). Respiro fundo e guardo a maquineta, ainda um tanto zonzinho das ideias. Mas afinal, como é que raio um português consegue sobreviver num sítio destes? ...A despejar o lixo dos franceses, evidentemente.
Pessoas, movimento, trânsito de cidade grande, gente que faz as compras para o almoço ainda distante. Passa uma senhora anafada com uma baguette (= carcaça muito comprida de casca dura e pouco miolo) debaixo do braço e fico meio hipnotizado, a segui-la com os olhos, talvez à espera de ver aparecer uma equipa de filmagens cheia de camones a ruminar pastilha elástica. Mas não, a senhora anafada vira a esquina e vai à vida dela sem perceber as minhas observações (e ainda bem, que ainda me arriscava a levar com uma baguette nas ventas). Então era mesmo verdade. Este pessoal não embrulha o pão. E eu que sempre pensei que isso era coisa da era pré-plástica, que já só aparecia nas caricaturas. "Mas porquê?", perguntei eu mais tarde ao meu amigo francês, já de regresso ao apartamento. "Como é que querias que fosse?", admira-se ele, com os olhinhos arremelgadinhos, como quem nunca pensou que pudesse ser de outra maneira. Lembro-lhe a existência dos sacos de plástico. “Sabe-se lá onde é que já andou o saco de plástico...”, diz-me o gajo a torcer o nariz num arzinho superior. Portanto, a bem da higiene, põem um papelinho pardo a enrolar o meio do cacete, só para agarrar, e deixam o resto de fora, que é para impregnar bem a fumarada dos escapes... E como farão se estiver a chover? Debaixo do braço, a ponta da baguette deve ultrapassar o chapéu de chuva... Não chego a aprofundar a questão. Já percebi que é melhor não fazer demasiadas perguntas sobre os costumes locais. São coisas que se explicam só por existirem. São, porque são, e ninguém pensa mais nisso.
Acima de nós, os placards. Retratos enormes, propaganda de eleições breves para a administração do bairro de Clichy. Os candidatos têm todos um ar muito simpático, de quem toma banho todos os dias, e sorriem para os eleitores com dentinhos de publicidade. Sim, têm realmente um ar de gajos porreiros. Mas até aposto que nenhum deles se atreveria a fazer concessões a favor dos cães deste bairro (até porque os cães não votam).
Dou-me conta de que é melhor não ir mais longe sem mapa e resolvo reconstituir o caminho todo que fiz até aqui, de volta ao mini-apartamento do meu amigo. Mas então e quanto às cores de que não-sei-quem falava? Bom, tomando-as à letra, noto que os franceses se vestem geralmente com tons claros, que têm uma pele cor-de-rosa pálido, coisa própria de quem nunca viu sol a sério, e que a percentagem de louros é maior do que em Portugal. Mas os nativos são só uns tantos, a que nem me atrevo a chamar a maioria. Pela rua ouço falar italiano, português, diversas variantes africanas e outras línguas indecifráveis, talvez dialectos árabes. Cruzo-me com mulheres que vestem túnicas e mantos que lhes encobrem o cabelo todo até à raiz. Na testa, no queixo e nas mãos trazem tatuagens toscas, traços e pontos azuis bastante esborratados pelo tempo ou pela falta de perícia. Se houver aqui turistas como eu, acho que não os consigo identificar (a não ser que seja uma excursão de japoneses de câmaras em riste, claro).
Retomo as ruas por onde passei, de volta a casa do meu amigo francês que teve a amabilidade de me convidar a vir passar uns dias com ele. Acho que ainda não será desta que vou ficar a saber o que é uma "vida a cores", mas é muito cedo para tirar conclusões. Ainda não passei das primeiras impressões numa manhã em Paris. Cheguei aqui ontem e ainda não vi nada. Mas é claro que antes de cá vir eu já sabia, como toda a gente, que não são as cidades que tornam a vida mais colorida; somos nós mesmos que lhe damos as tonalidades, seja em que lugar for.
"Lá a vida é a cores, enquanto que aqui é a preto e branco", disse-me alguém já não sei quando. Ficou-me a curiosidade, mas nem por isso me deixei impressionar.
E agora aqui estou eu. Então Paris é isto. Rodo sobre os calcanhares a olhar em volta. É limpo. Arrumadinho. Nem uma poia de cão para animar o ambiente. O ar é leve, às vezes com nuances que lembram cheiro de champô.
Seis e coiso da manhã. O meu amigo já saiu para trabalhar. Engoli o pequeno almoço e vim para a rua cheio de vontade de ver onde estou. Cheguei ontem à noite e ainda nem percebi exactamente onde é que entrei, já um tanto zonzo com o meu anfitrião tagarela sempre a enumerar instruções sobre o funcionamento da cidade e o trato com os indígenas desde a estação até aqui. Nos próximos dias ele começa as férias e então terei um cicerone para fazer a voltinha da praxe pelos monumentos, os museus, as putas da zona do Pigalle e tudo o mais que constar no roteiro turístico.
Mas agora sou só eu, numa cidade que nunca vi, em voltinha de reconhecimento, completamente por minha conta.
Assim de repente, a rua parece estar asséptica como um hospital. Será então a qualidade da limpeza que faz os emigrantes chegarem lá a Portugal com ar de quem se foi meter no meio dos porcos depois de terem vivido num palácio? Só dos contentores do lixo é que vem um cheiro pestilento, mas não é do lixo, é o cheiro do desinfectante amarelo que uma brigada de agentes de desinfecção, também amarelos, vai pulverizando com umas maquinetas um tanto suspeitas, que mais parecem armas alienígenas. Vêm vestidos de plástico, com cógulas, luvas e galochas, tudo amarelo, ao melhor estilo espacialo-folcórico. A avaliar por toda aquela protecção, a bodega amarela deve ser altamente tóxica. Aperto o nariz e passo rapidamente adiante.
Continuo o meu passeio. Sinto-me um parolo com os olhos bestialmente abertos, ávidos, como se tivesse medo de deixar escapar algum pormenor. Não sei porquê, mas talvez por causa desta neblina da manhã, desta luz ainda pouco nítida ou deste cheiro artificial com que a cidade acorda, tenho a impressão de estar a caminhar por um grande cenário, onde o som dos meus passos ao longo da alameda é bem mais real do que as fachadas dos edifícios onde eles ressoam. As casas são todas iguais. Prédios forrados de tijoleira vermelha com frisos de pedra branca a debruar as janelas, onde até as cortinas estão penduradas da mesma maneira em todos os andares. Cortinas brancas presas dos lados como as das casinhas que os putos desenham. E depois, todo o ambiente é leve e claro, onde o cinzento dos passeios não pesa e no asfalto negro nem se repara, sobretudo quando se é turista, porque os turistas andam sempre de nariz no ar. Os prédios vermelhos parecem feitos com peças de encaixar. Tudo tem um ar de coisa a fingir, de jogo de construções feito por um miúdo maníaco da simetria. A alameda podia ter sido feita na véspera, armada às pressas só para eu lá poder passar hoje. Imagino que são apenas fachadas, que por trás estão todas seguras por tábuas toscas cravadas no chão. Habituado aos contrastes de Lisboa, tamanha uniformidade chocalha-me os sentidos e acentua-se mais a consciência de estar no estrangeiro. E isso agrada-me porque se trata já de uma pequena vitória sobre o meu lado fleumático.
No passeio central da alameda há banquinhos de jardim onde bandos de velhos jogam às cartas e tagarelam com palavras estranhas de um dialecto só deles. Velhos vestidos de preto, com boinas enterradas até às sobrancelhas, como as dos franceses castiços que falam inglês de sotaque arranhado nos filmes americanos do tempo da guerra.
Aqui e ali, canteiros de sardinheiras e grandes jarrões de metal verde. Os canteiros são tão altos que quase me chegam à cintura. Segundo a explicação do meu amigo, quando vínhamos da estação na noite passada, é para as flores ficarem protegidas dos cães. E com efeito, cães é coisa que não falta por aqui. Caniches, sobretudo caniches, caniches de todas as cores e de todos os tamanhos, dos anões aos matulões, caniches tosquiados e caniches peludos, caniches ao natural e caniches de verniz nas unhas e laçarotes na cabeça, caneco, que nunca vi tanto caniche junto. E a estas horas matinais do pré-expediente, o pessoal que anda pela rua divide-se entre os fulanos em fato de treino que praticam o seu jogging e os fulanos de trela na mão que praticam o footing do caniche. Alguns juntam os dois exercícios e correm com o cão atrás, que os segue em passinhos curtos, saltitante, com as orelhas a bater. Mas apesar desta canzoada toda, reforça-se a minha ideia de que esta cidade é anti-cão.
Nos passeios, limpos e sem frestas, nem uma erva raquítica se atreve a despontar. Os canteiros, demasiado altos, também deixam tudo o que é verde fora do alcance do nariz de qualquer cão. Nada passível de ser tasquinhado. No fim da alameda há um jardim, mas mesmo esse está vedado. Na cancela há uma placa com a silhueta de um cão cortada por um xis a vermelho. Quer isto dizer que nem aí lhes dão hipótese de cheirarem árvores e terra. Penso no que será a vida desses cães de apartamento, que nunca esgravatam o chão, que nunca metem o dente numa coisa verde e viçosa, que nunca correm atrás dos pombos, que nem licença têm para farejar os outros – o último que tentou ia sendo estrafegado pela dona ali na outra esquina. Instinto censurado por trelas curtas e tensas, condenados a uma castração olfactiva. Uma vida de cão. Arrepio-me.
Mas logo a seguir lembro-me que me ensinaram no liceu que os franceses gostam de passear aos fins de semana, como qualquer europeu com semana inglesa (já que não faço a mínima ideia de quando é que os outros passeiam). O tal do Bois de Boulogne, pois claro, fartavam-se de falar nisso... E penso então que com certeza estes cães acompanharão os donos nesses passeios pelo meio das árvores. E que mesmo aqueles caniches impecáveis, de pêlo escovado e coleiras de strass irão rebolar na relva molhada, alçar a pata onde bem entenderem, com a satisfação funda de quem se vinga das mijas acanhadas na berma do passeio, encontrar outros e encher o nariz de cheiro a cão, chapinhar nas poças de água, correr feitos doidos, só por correr, só para sentir o corpo a funcionar como um corpo de cão. Ah sim, só esses fins de semana podem justificar aquela fleuma com que os caniches pisam o chão quando acompanham os donos naqueles passinhos miúdos e saltaricos, indiferentes a tudo. Só isso explica que suportem estoicamente aquelas tosquias atrozes, a comida enlatada, os dois passeios diários do regulamento. É que eles esperam pacientemente o fim de semana.
Deixando para trás o jardim do bairro-dormitório, encontro a zona das lojas. Aí estão elas, as primeiras montras cá do sítio. Saco do bolso a arma imprescindível para a defesa de qualquer turista com um nível de vida como o meu: a calculadora. Passo à acção. Vou fazendo o câmbio dos preços sempre a tentar manter o sangue frio, ainda que de vez em quando tenha de repetir as contas para ter mesmo a certeza de que não me enganei nem nada. Para não entrar em pânico, lembro-me que estou aqui de passagem e que, tirando a questão de ter de comer todos os dias, não vou precisar de comprar nada extra (claro que a esta altura já desisti dos souvenirs para a família). Respiro fundo e guardo a maquineta, ainda um tanto zonzinho das ideias. Mas afinal, como é que raio um português consegue sobreviver num sítio destes? ...A despejar o lixo dos franceses, evidentemente.
Pessoas, movimento, trânsito de cidade grande, gente que faz as compras para o almoço ainda distante. Passa uma senhora anafada com uma baguette (= carcaça muito comprida de casca dura e pouco miolo) debaixo do braço e fico meio hipnotizado, a segui-la com os olhos, talvez à espera de ver aparecer uma equipa de filmagens cheia de camones a ruminar pastilha elástica. Mas não, a senhora anafada vira a esquina e vai à vida dela sem perceber as minhas observações (e ainda bem, que ainda me arriscava a levar com uma baguette nas ventas). Então era mesmo verdade. Este pessoal não embrulha o pão. E eu que sempre pensei que isso era coisa da era pré-plástica, que já só aparecia nas caricaturas. "Mas porquê?", perguntei eu mais tarde ao meu amigo francês, já de regresso ao apartamento. "Como é que querias que fosse?", admira-se ele, com os olhinhos arremelgadinhos, como quem nunca pensou que pudesse ser de outra maneira. Lembro-lhe a existência dos sacos de plástico. “Sabe-se lá onde é que já andou o saco de plástico...”, diz-me o gajo a torcer o nariz num arzinho superior. Portanto, a bem da higiene, põem um papelinho pardo a enrolar o meio do cacete, só para agarrar, e deixam o resto de fora, que é para impregnar bem a fumarada dos escapes... E como farão se estiver a chover? Debaixo do braço, a ponta da baguette deve ultrapassar o chapéu de chuva... Não chego a aprofundar a questão. Já percebi que é melhor não fazer demasiadas perguntas sobre os costumes locais. São coisas que se explicam só por existirem. São, porque são, e ninguém pensa mais nisso.
Acima de nós, os placards. Retratos enormes, propaganda de eleições breves para a administração do bairro de Clichy. Os candidatos têm todos um ar muito simpático, de quem toma banho todos os dias, e sorriem para os eleitores com dentinhos de publicidade. Sim, têm realmente um ar de gajos porreiros. Mas até aposto que nenhum deles se atreveria a fazer concessões a favor dos cães deste bairro (até porque os cães não votam).
Dou-me conta de que é melhor não ir mais longe sem mapa e resolvo reconstituir o caminho todo que fiz até aqui, de volta ao mini-apartamento do meu amigo. Mas então e quanto às cores de que não-sei-quem falava? Bom, tomando-as à letra, noto que os franceses se vestem geralmente com tons claros, que têm uma pele cor-de-rosa pálido, coisa própria de quem nunca viu sol a sério, e que a percentagem de louros é maior do que em Portugal. Mas os nativos são só uns tantos, a que nem me atrevo a chamar a maioria. Pela rua ouço falar italiano, português, diversas variantes africanas e outras línguas indecifráveis, talvez dialectos árabes. Cruzo-me com mulheres que vestem túnicas e mantos que lhes encobrem o cabelo todo até à raiz. Na testa, no queixo e nas mãos trazem tatuagens toscas, traços e pontos azuis bastante esborratados pelo tempo ou pela falta de perícia. Se houver aqui turistas como eu, acho que não os consigo identificar (a não ser que seja uma excursão de japoneses de câmaras em riste, claro).
Retomo as ruas por onde passei, de volta a casa do meu amigo francês que teve a amabilidade de me convidar a vir passar uns dias com ele. Acho que ainda não será desta que vou ficar a saber o que é uma "vida a cores", mas é muito cedo para tirar conclusões. Ainda não passei das primeiras impressões numa manhã em Paris. Cheguei aqui ontem e ainda não vi nada. Mas é claro que antes de cá vir eu já sabia, como toda a gente, que não são as cidades que tornam a vida mais colorida; somos nós mesmos que lhe damos as tonalidades, seja em que lugar for.
20.10.07
Tá decidido: vou dar de frosques
Depois daquela calma da ilha, acordar com uma gaja a cantar que o "Jésuis é o nosso reeeeei" é um bocadinho demais para um ermita, por muito urbano que seja.
Acho que chegou a altura de empacotar os tarecos, contratar uma camionete de mudanças, agarrar no gato e bazar daqui. Não acreditam? Vão ver. Desta vez é que é: bye bye Cacém City.
Acho que chegou a altura de empacotar os tarecos, contratar uma camionete de mudanças, agarrar no gato e bazar daqui. Não acreditam? Vão ver. Desta vez é que é: bye bye Cacém City.
El Baile (1998)
Chega-se lá por uma escada vermelha, que desce em caracol por entre o fumo que vem do fundo. Uma descida aos infernos, ou pelo menos a um dos seus átrios, um sítio escuro e enevoado onde as almas queimam as últimas energias antes da rendição.
A música toma conta de tudo, trovejante tentativa frustrada de parecer alegre. Mas para quem entra aqui pela primeira vez o ambiente é bem mais grotesco do que qualquer castelo fantasma de feira popular.
Figuras deambulam de copo em punho, sombrias e difusas pelo meio da névoa, criaturas do limbo com olhos à prova de fumo. Cruzam-se connosco em farejadelas furtivas e longas observações de predador, mas para quem chega tudo não passa de uma amálgama de formas indistintas com cheiro a muita gente. Só passado algum tempo é que a vista se habitua às trevas e ao ardor e começa a conseguir apreciar a fauna local.
À minha frente vão passando devagar alguns ventres traídos pelas camisas demasiado justas que se arreganham em esgares entre os botões. Circulam interessados nas mesas, onde se instalaram grupinhos de amigas, mulheres que já foram fêmeas e que talvez ainda se lembrem vagamente dos incómodos do período. Também elas observam os seus satélites, ainda que tentem mostrar um ar distraído. Avaliam-se mutuamente. Todos aqui querem escolher e ser escolhidos. Percebo então (anjolas completo) que a tal da "sala de baile" para onde me trouxeram é afinal um ponto de engate. Mas é um engate que impressiona quem vem de fora e nunca ouviu falar desta espécie de boites para a terceira idade.
Os meus olhos vão-se conformando a todo o peso da escuridão e do fumo e começam a distinguir mais pormenores; o contorno raiado das bocas sanguíneas, estrelas vermelhas que lentamente se estendem ao longo das rugas, as mamas gelatinosas literalmente penduradas ao pescoço, os dedos bronzeados onde as alianças que agora rebolam pelo forro dos bolsos deixaram o seu fantasma branco. Há folhos e botões dourados nas camisas de alguns homens secos, talvez ciganos. Os outros, mais anafados ou simplesmente mais recatados, não se atrevem a exuberâncias. O mesmo critério (ou pudor) não existe entre as mulheres. O volume não lhes impede a extroversão. Só assim se explica a profusão de decotes, de franjas e de lantejoulas em vestidos que ameaçam explodir a qualquer movimento.
Penso que isto não seria possível na minha terra. Que nenhum português seria capaz de parecer natural depois dos sessentas metido num traje de luzes. No entanto esta gente está na maior. Constrangimento, só mesmo o meu.
Mas por muito estranhos que estes espanholitos me pareçam, não posso deixar de admitir que têm razão. Eles não desistiram. Não ficaram em casa a ver televisão. E nestes folhos todos há alegria de viver, ou alegria de engatar, não importa; é uma alegria qualquer.
No palco, alguns pares arriscam-se a exibições requebradas, ainda que o som da orquestra tome por vezes aspectos arrepiantes. A voz do cantor já acusa uns tantos whiskies e os músicos limitam-se a acompanhá-lo sem convicção. Tocam música espanhola que os meus avós espanhóis também devem ter dançado, um repertório bolorento que já devia ter passado à história (p’raí dos anos vinte…), mas que pelos vistos continua a reunir adeptos. Talvez seja por causa do saudosismo típico da idade dos clientes… ou pelo facto da música ser irrelevante no que toca a engates, desde que seja apropriada a um roça-roça ritmado socialmente aceitável, ainda com a vantagem dos direitos de autor já terem caído todos no domínio público.
O meu guia é um frequentador habitual do lugar, um primo em não sei que grau que a família me apresentou hoje ao almoço. Explica-me ele que isto é um bom lugar para "ligar". Até aí não me está a dar nenhuma novidade, ainda que me pareça que será preciso estar já muito desesperado para "ligar" com alguma matrona destas. No entanto, nem por isso deixam de ser especímenes altamente interessantes. Muito pelo contrário. Nesta altura já tenho a máquina fotográfica a dar pulos de impaciência dentro da bolsa do cinto. Tiro-a cá p’ra fora a pensar se a fumarada não irá ser fatal para a nitidez. Atraem-me especialmente um grupo de três mulheres numa mesa, a soprarem fumo em silêncios simultâneos, e um cigano castiço que se passeia com uma camisa às bolas com folhos à frente, nitidamente a mostrar-se. Só quando o meu primo me agarra o pulso e me obriga a voltar a guardar a câmara com um ar de urgência é que me apercebo dos olhares inquietos (ou furiosos, mais exactamente) das pessoas ao redor. Se tivesse chegado a disparar uma flashada, suponho que teria sido linchado antes mesmo de perceber porquê.
Afinal este pessoal tem mais pudor do que eu imaginei. Exuberância, sim, engate, pois claro, mas em privado. Território perigoso para um caçador de imagens demasiado impulsivo, dos que fotografam primeiro e pensam depois. Ok, já percebi; há alturas certas para tudo, até para guardar a câmara, por muito que ela proteste dentro da bolsa.
E entretanto o meu primo espanhol em não sei que grau apresenta-me a uma loura ainda em razoável estado de conservação que não estava nada interessada em me ser apresentada e me vira as costas ostensivamente enquanto lhe resmunga qualquer coisa em voz baixa. Percebo que é por minha causa que o meu primo, além de chegar atrasado, ainda não se tinha ido sentar na mesa dela. Pelos vistos está toda lixada por ter passado tanto tempo ali à espera e resolve passar-lhe um belo raspanete. Intervenho, insisto para que nos sentemos todos, mas ela deita-me uns olhos de quem vai morder. A minha presença desagrada-lhe, quanto mais não seja pela minha falta de rugas. Ninguém com a minha idade vai a lugares destes, e quando vai é para se rir dos outros. O episódio da máquina fotográfica só veio reforçar o meu rótulo de indesejável.
Percebo que de repente me tornei o centro das atenções. Todos ali à volta me observam com uma desaprovação explícita. Seguem-me os movimentos e cochicham entre eles, um peso desagradável de muitos olhos em cima de mim. Agora sou um espião desmascarado e não me atreveria a tocar na bolsa onde guardei a máquina nem para tirar o cartão de consumo que o porteiro me deu. Afinal, aqui dentro o bicho raro sou eu.
Deixo o meu primo com a sua loura e saio. Primeiro devagar, até chegar à entrada, mas assim que me apanho na escada desato a correr por ali acima a sentir um alívio enorme, porque afinal acabei me safar do inferno lá de baixo. Na rua, o ar frio e contaminado de Madrid bate-me na cara com um cheirinho a churros e a óleo quente que sai de um café ali próximo. Vou andando, de olho nos carros a ver se passa um táxi, cá por dentro ainda com um incómodo esquisito qualquer, como um pressentimento mau, e tento garantir a mim mesmo que não acabei de ter um vislumbre do meu futuro.
A música toma conta de tudo, trovejante tentativa frustrada de parecer alegre. Mas para quem entra aqui pela primeira vez o ambiente é bem mais grotesco do que qualquer castelo fantasma de feira popular.
Figuras deambulam de copo em punho, sombrias e difusas pelo meio da névoa, criaturas do limbo com olhos à prova de fumo. Cruzam-se connosco em farejadelas furtivas e longas observações de predador, mas para quem chega tudo não passa de uma amálgama de formas indistintas com cheiro a muita gente. Só passado algum tempo é que a vista se habitua às trevas e ao ardor e começa a conseguir apreciar a fauna local.
À minha frente vão passando devagar alguns ventres traídos pelas camisas demasiado justas que se arreganham em esgares entre os botões. Circulam interessados nas mesas, onde se instalaram grupinhos de amigas, mulheres que já foram fêmeas e que talvez ainda se lembrem vagamente dos incómodos do período. Também elas observam os seus satélites, ainda que tentem mostrar um ar distraído. Avaliam-se mutuamente. Todos aqui querem escolher e ser escolhidos. Percebo então (anjolas completo) que a tal da "sala de baile" para onde me trouxeram é afinal um ponto de engate. Mas é um engate que impressiona quem vem de fora e nunca ouviu falar desta espécie de boites para a terceira idade.
Os meus olhos vão-se conformando a todo o peso da escuridão e do fumo e começam a distinguir mais pormenores; o contorno raiado das bocas sanguíneas, estrelas vermelhas que lentamente se estendem ao longo das rugas, as mamas gelatinosas literalmente penduradas ao pescoço, os dedos bronzeados onde as alianças que agora rebolam pelo forro dos bolsos deixaram o seu fantasma branco. Há folhos e botões dourados nas camisas de alguns homens secos, talvez ciganos. Os outros, mais anafados ou simplesmente mais recatados, não se atrevem a exuberâncias. O mesmo critério (ou pudor) não existe entre as mulheres. O volume não lhes impede a extroversão. Só assim se explica a profusão de decotes, de franjas e de lantejoulas em vestidos que ameaçam explodir a qualquer movimento.
Penso que isto não seria possível na minha terra. Que nenhum português seria capaz de parecer natural depois dos sessentas metido num traje de luzes. No entanto esta gente está na maior. Constrangimento, só mesmo o meu.
Mas por muito estranhos que estes espanholitos me pareçam, não posso deixar de admitir que têm razão. Eles não desistiram. Não ficaram em casa a ver televisão. E nestes folhos todos há alegria de viver, ou alegria de engatar, não importa; é uma alegria qualquer.
No palco, alguns pares arriscam-se a exibições requebradas, ainda que o som da orquestra tome por vezes aspectos arrepiantes. A voz do cantor já acusa uns tantos whiskies e os músicos limitam-se a acompanhá-lo sem convicção. Tocam música espanhola que os meus avós espanhóis também devem ter dançado, um repertório bolorento que já devia ter passado à história (p’raí dos anos vinte…), mas que pelos vistos continua a reunir adeptos. Talvez seja por causa do saudosismo típico da idade dos clientes… ou pelo facto da música ser irrelevante no que toca a engates, desde que seja apropriada a um roça-roça ritmado socialmente aceitável, ainda com a vantagem dos direitos de autor já terem caído todos no domínio público.
O meu guia é um frequentador habitual do lugar, um primo em não sei que grau que a família me apresentou hoje ao almoço. Explica-me ele que isto é um bom lugar para "ligar". Até aí não me está a dar nenhuma novidade, ainda que me pareça que será preciso estar já muito desesperado para "ligar" com alguma matrona destas. No entanto, nem por isso deixam de ser especímenes altamente interessantes. Muito pelo contrário. Nesta altura já tenho a máquina fotográfica a dar pulos de impaciência dentro da bolsa do cinto. Tiro-a cá p’ra fora a pensar se a fumarada não irá ser fatal para a nitidez. Atraem-me especialmente um grupo de três mulheres numa mesa, a soprarem fumo em silêncios simultâneos, e um cigano castiço que se passeia com uma camisa às bolas com folhos à frente, nitidamente a mostrar-se. Só quando o meu primo me agarra o pulso e me obriga a voltar a guardar a câmara com um ar de urgência é que me apercebo dos olhares inquietos (ou furiosos, mais exactamente) das pessoas ao redor. Se tivesse chegado a disparar uma flashada, suponho que teria sido linchado antes mesmo de perceber porquê.
Afinal este pessoal tem mais pudor do que eu imaginei. Exuberância, sim, engate, pois claro, mas em privado. Território perigoso para um caçador de imagens demasiado impulsivo, dos que fotografam primeiro e pensam depois. Ok, já percebi; há alturas certas para tudo, até para guardar a câmara, por muito que ela proteste dentro da bolsa.
E entretanto o meu primo espanhol em não sei que grau apresenta-me a uma loura ainda em razoável estado de conservação que não estava nada interessada em me ser apresentada e me vira as costas ostensivamente enquanto lhe resmunga qualquer coisa em voz baixa. Percebo que é por minha causa que o meu primo, além de chegar atrasado, ainda não se tinha ido sentar na mesa dela. Pelos vistos está toda lixada por ter passado tanto tempo ali à espera e resolve passar-lhe um belo raspanete. Intervenho, insisto para que nos sentemos todos, mas ela deita-me uns olhos de quem vai morder. A minha presença desagrada-lhe, quanto mais não seja pela minha falta de rugas. Ninguém com a minha idade vai a lugares destes, e quando vai é para se rir dos outros. O episódio da máquina fotográfica só veio reforçar o meu rótulo de indesejável.
Percebo que de repente me tornei o centro das atenções. Todos ali à volta me observam com uma desaprovação explícita. Seguem-me os movimentos e cochicham entre eles, um peso desagradável de muitos olhos em cima de mim. Agora sou um espião desmascarado e não me atreveria a tocar na bolsa onde guardei a máquina nem para tirar o cartão de consumo que o porteiro me deu. Afinal, aqui dentro o bicho raro sou eu.
Deixo o meu primo com a sua loura e saio. Primeiro devagar, até chegar à entrada, mas assim que me apanho na escada desato a correr por ali acima a sentir um alívio enorme, porque afinal acabei me safar do inferno lá de baixo. Na rua, o ar frio e contaminado de Madrid bate-me na cara com um cheirinho a churros e a óleo quente que sai de um café ali próximo. Vou andando, de olho nos carros a ver se passa um táxi, cá por dentro ainda com um incómodo esquisito qualquer, como um pressentimento mau, e tento garantir a mim mesmo que não acabei de ter um vislumbre do meu futuro.
18.10.07
17.10.07
Haja pachorra (e tampões para os ouvidos)
A ver... no sexto andar há brasileiros a pôr música nordestina a manhã toda, enquanto não vêm os angolanos do quintal lá de baixo, aí pelas quatro da tarde, e desatam a tocar música africana até à hora do jantar, além dos ensaios da banda do segundo andar (à falta de garagem, é uma banda de varanda) que nunca tem hora marcada, e da igreja esquisita no barracão lá ao fundo que põe a malta toda a cantar em côro durante não sei quanto tempo.
Há dias em que a sorte dos meus vizinhos é eu não ter uma caçadeira.
Há dias em que a sorte dos meus vizinhos é eu não ter uma caçadeira.
14.10.07
Regresso ao ermitério
De Stornoway para Edimburgo, de Edimburgo para Faro, de Faro para Lisboa e de Lisboa para Cacém City. Uff.
Abri a porta, larguei a mala, sentei-me no chão e agarrei-me ao gato, mas ele estava mais interessado em me farejar, como que para ter a certeza que desta vez era mesmo eu e não a vizinha de cima que lhe vinha dar a ração do dia. Farejou-me as mãos, a cara, a roupa e a mala antes de renhaunhar finalmente, em resposta às minhas efusões, ainda num tom reprovador, "mas onde é que te meteste durante este tempo todo, oh meu sacana dum raio?", mas já a deixar-se embalar e chocalhar e espremer contra o meu peito.
E agora não posso sair de casa nem para ir lá abaixo ao supermercado, p'a tratar de abastecer o frigorífico, que ela pensa (ah sim, eu digo "o gato" mas a Zarosky é uma gata; faz falta uma forma neutra eficaz no português), mas dizia eu que ela pensa que me vou voltar a pirar por mais dois meses e fica histérica de todo, em renhaus desesperados do outro lado da porta. Avizinham-se longos tempos de nhonhós, de colos e de coçar barrigas; há que tratar do stress do animal.
E não me apetece nada desfazer a mala. Não é que queira fugir outra vez; é preguiça mesmo, só de pensar que tenho de arrumar a tralha toda nos armários. Fica pra depois; por agora ainda estou na ressaca da viagem e só me apetece ferrar o galho no sofá com um gato em cima.
Abri a porta, larguei a mala, sentei-me no chão e agarrei-me ao gato, mas ele estava mais interessado em me farejar, como que para ter a certeza que desta vez era mesmo eu e não a vizinha de cima que lhe vinha dar a ração do dia. Farejou-me as mãos, a cara, a roupa e a mala antes de renhaunhar finalmente, em resposta às minhas efusões, ainda num tom reprovador, "mas onde é que te meteste durante este tempo todo, oh meu sacana dum raio?", mas já a deixar-se embalar e chocalhar e espremer contra o meu peito.
E agora não posso sair de casa nem para ir lá abaixo ao supermercado, p'a tratar de abastecer o frigorífico, que ela pensa (ah sim, eu digo "o gato" mas a Zarosky é uma gata; faz falta uma forma neutra eficaz no português), mas dizia eu que ela pensa que me vou voltar a pirar por mais dois meses e fica histérica de todo, em renhaus desesperados do outro lado da porta. Avizinham-se longos tempos de nhonhós, de colos e de coçar barrigas; há que tratar do stress do animal.
E não me apetece nada desfazer a mala. Não é que queira fugir outra vez; é preguiça mesmo, só de pensar que tenho de arrumar a tralha toda nos armários. Fica pra depois; por agora ainda estou na ressaca da viagem e só me apetece ferrar o galho no sofá com um gato em cima.
6.10.07
Postais à família - 4 (para o progenitor do ermita)
The Village, St. Kilda, postal de Colin Baxter
Isto aqui é um sítio que muito provavelmente não vou ter oportunidade de ver, mas entretanto vi umas casas parecidas, reconstruções das antigas que agora servem de estalagem de fins de semana para grupos de miúdos, que fazem visitas com a escola para verem como era a vida na ilha há uns anos atrás. Estas de pedra são conhecidas como as "black houses" e as tais reconstruídas aqui em Lewis têm o telhado em palha, com uma rede por cima para aquilo não voar tudo. Estas do postal são noutra ilha, St. Kilda, e como ainda são habitadas, o pessoal meteu-lhes telhados a sério, que já devia 'tar tudo farto de acartar palha.
Isto aqui é a igreja de St. Clements, em Rodel, na ilha de Harris, vista das traseiras. Topa-se que o telhado é recente e no geral está bem conservada. O sítio é dos poucos planaltos com terra que existem na ilha; o resto é só calhaus e montanhas. As ovelhas devem ter a perna mais gorda por aqui à conta do exercício.
Postais à família - 3 (para o progenitor do ermita)
Stornoway, postal de Mike Guy
The butt of Lewis, postal de Patricia e Angus MacDonald
Lews Castle, postal de Sue Anderson
Isto aqui é o Lews Castle, que fica no porto de Stornoway e é o único sítio da ilha onde conseguiram fazer um bosque com árvores exóticas; depois há uns bosques por aqui e por ali de pinheiros plantados uns em cima dos outros para aguentarem o vento e mesmo assim os das pontas costumam estar mortos. O castelo é de 1847 e está a cair (por fora não parece); está fechado e tem avisos de perigo de derrocada por todo o lado. O parque é sobretudo frequentado por escoceses a correr em calções. Muito giro.
Carapau pró almoço!
Postais à família - 2 (para o progenitor do ermita)
The Standing Stones, Callanish, postal de David Morrison
Olé a todos, isto aqui é o cromelech de Callanish tal com eu gostaria de o ter visto (e fotografado, claro), porque enquanto lá estive o tempo estava bestialmente farrusco e de vez em quando chovia a sério. Mesmo assim é bestial para quem é taradinho pelos calhaus, claro, e calhaus por aqui não faltam. No entanto, a malta é muito simpática mas pouco informada e interessada sobre o próprio património. E depois de se achar muito giro este espaço todo, acaba por não passar disso mesmo: muito espaço mas sempre igual. Dá-se a volta a isto num instante. Mas por enquanto vou andando por aí a ver as vistas e a encher os pulmões, que pelo menos o ar aqui é bestial (tenho dormido que nem um calhau).
Dun Carloway, postal de Colin Baxter
Dun Carloway, postal de Charles Tait
O broch num ângulo muito semelhante ao que eu apanhei na minha máquina, com a diferença de que estes aqui tinham bom tempo e claridade suficiente para se verem as pedrinhas todas. É tudo feito em pedra solta, muito bem encaixadinha, para conseguir durar ainda meio em pé desde a Idade do Ferro. Há uma série de coisos destes aqui nas ilhas (14 ao que consta), mas este é o que se conservou mais.
E aqui é outra vez o broch de Carloway, mas visto por dentro; as paredes são duplas, com uma escada no meio, e se aquilo não tinha janelas mais acima, na parte que já caiu, então o pessoal não via a ponta dum corno lá dentro (mesmo agora, cheio de buracos, é difícil).
Subscrever:
Comentários (Atom)