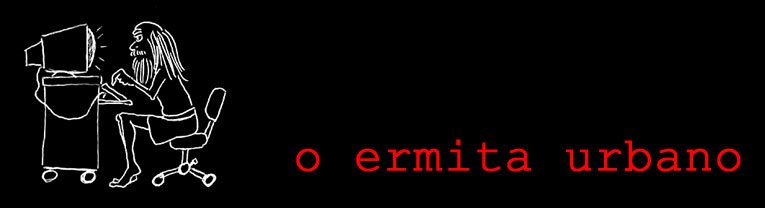Eu no escritório com um caixote na mão, encomenda do progenitor chegada da pátria lusa, com três maços de tabaco e uma data de chouriços lá dentro, a saber – dois vermelhinhos normais, um preto, duas farinheiras e um salpicão (“a Marisa vai ficar toda contente, a pensar que é um vibrador”, aproveitou logo a tarada da Moira para meter a bucha), mais dois postais com as novidades e as instruções: “se conseguires arranjar as couves, podes fazer um cozido com isto, pra mostrares aí aos selvagens o que é comida a sério”. E eu arranjei dois repolhos parecidos com couve galega e os selvagens lamberam o prato, concordando todos que depois de um almoço daqueles devíamos ir bater uma bela sorna, ficando assim explicado o hábito da “siesta” para estas cabecinhas, que continuam a achar que Portugal e Espanha têm nomes diferentes mas é tudo a mesma coisa, “assim como nós e os irlandeses, não é?” Menos clara ficou a minha grande proeza em me conseguir manter elegante (por muito que eu proteste que tou gorda que nem uma texuga) porque se os portugueses costumam enfardar comidas destas, deviam ser todos rechonchudos e luzidios; e se se vissem melhor ao espelho, iam concluir que à conta das “comidinhas leves” que fazem aqui na ilha, andam todos a rebentar as costuras, mas enfim… É como o leite – quando fiz caretas por eles beberem leite às refeições, a acompanhar comida salgada, a Marisa argumentava que era essencial para a saúde: “faz bem aos ossos e aos dentes”, dizia ela, mas se reparasse melhor, ia notar que o marido tem um lindo sorriso com dois incisivos a menos (um em cima e outro em baixo, desencontrados), a irmã tem os molares todos pretos e as filhas dividem-se entre o amarelo-desvitalisado e o cinzento translúcido das cáries interiores. Ainda não vi ninguém nesta ilha com um teclado cinematográfico, mas por falta de beberem leitinho, garanto que não é.
Noite numa festa de escola, muito ao estilo das nossas escolas, por fora com ar de estar a cair aos bocados, por dentro mais ou menos pintada e remendada para ir adiando as despesas das obras por mais uns tempos; as festas servem para arranjarem umas massitas extra para a escola. O anúncio dizia Ceilidh & coffee evening (ceilidh lê-se como “kêli” e consta de danças tradicionais com gaitas de foles), mas de ceilidh houve muito pouco e quase toda a gente preferiu beber chá. Mas eu não podia faltar. Vim por causa do coro gaélico de Point (Coisir an Rubha), onde a Moira e a Chrisella cantam, soprano e contralto respectivamente. À falta de melhor pra fazer, comecei por ir com elas aos ensaios e acabei por me interessar, por me entusiasmar com os progressos, por ficar de cabelos em pé com as fífias ainda por limar, a viver a coisa de tal maneira, que nesta noite acho que vim tão apreensiva como o próprio maestro. Mas o coro portou-se bem. O som foi talvez demasiado curto para uma sala tão grande, mas pelo menos estavam afinadinhos. Daqui a uns dias têm um concerto a sério, um concurso de coros gaélicos em Oban, e daqui até lá vai haver ensaios todas as noites, que já começam a fatigar as minhas colegas. Ainda por cima a Chrisella não se conforma que a parte dela seja tão pouco melódica; entrou no coro porque gostava de cantar, mas como tem uma bela voz de contralto, ficou limitada a servir de suporte à harmonia – “é como se os sopranos fossem de férias e os contraltos tivessem de lhes acartar com a bagagem…” – queixava-se ela um dia destes, por muito que o maestro explicasse que o coro é um trabalho de grupo e que todos são fundamentais. Lembrei-me então de uma das minhas noites em casa dela (que acabaram quase todas em copos e altas filosofias), em que estivemos a ouvir discos de vinil dos anos oitenta e a dançar em pijama, e disse-lhe que aquilo não era o triste destino dos contraltos; veja-se o exemplo da Annie Lennox. Acho que ficou mais animada, pelo menos com a ideia de que um contralto pode fazer uma bela carreira a solo quando não tem bagagens para acartar.
Sábado de filmagens. A realizadora é uma menina-miniatura, uma indiana bonita de vinte e poucos anos e menos de metro e meio de altura, que está a fazer um documentário sobre as ilhas. A ideia dela era tentar reconstruir cenas quotidianas dos anos cinquenta. E então, como precisava de actores e ainda por cima pagava para isso, ofereceram-se uns quantos do coro de Point, para arranjarem mais umas massas para pagar a estadia da equipa durante durante estes dias que vão passar em Oban. Reunidas as vestimentas da época e feitos os penteados a condizer, tínhamos três mulheres e dois homens, mais a Moira e eu para ajudar a espalhar a confusão. Metemo-nos à estrada e parámos no meio do campo, ao pé de uma casota minúscula, como as que em tempos foram usadas pelos criadores de ovelhas como “residências de verão”; o rebanho mudava de pastagem e o dono mudava-se com família e bicharada para o meio destes terrenos desertos. Esta ainda é usada e habitada por um senhor simpático, que aceitou logo emprestar a casa para as filmagens da menina indiana. Mas a pobre da rapariga teve montes de azar com o tempo, tanto que já admite voltar na Primavera e repetir tudo outra vez, porque o dia foi de banho. Dia de chuva horizontal, de tão batida a vento, escuro e miserável, dos que não dá vontade nem de pôr o nariz de fora. Nos últimos takes, com os dois homens e uma das mulheres a fingirem que cortavam a turfa (usada como combustível), as condições eram tão más que teve de ser a própria realizadora a fazer as filmagens, porque o cameraman recusou-se a continuar. Só não sei se foi por causa do tempo ou por estar ainda demasiado encavacado para sair da carrinha… Passo a explicar: estando eu, a Moira, a cortadora de turfa e um dos homens dentro do carro, todos a beber chá para aquecer, apareceu o cameraman, olhou em volta e como não viu ninguém, que os vidros do carro estavam embaciados, vá de abrir a braguilha e começar a fazer a sua mija a favor do vento, mesmo virado para nós. E então, em vez de ficar quietinha, a Moira desatou logo a limpar o vidro com a mão para ver melhor o panorama. Assim que percebeu que afinal tinha assistência, mas já demasiado lançado para poder interromper, o moço virou-se logo de costas para nós, ou seja, ficou literalmente a mijar contra o vento. Provavelmente tinha-se esquecido de que naquele dia o deserto estava particularmente habitado.
Aqui há meses, estando a Marisa a cavar batatas no seu quintal – e o quintal é qualquer coisa como um quilómetro até à falésia, com outro tanto ou mais de largo – fez cloinc numa coisa de metal e vai-se a ver sai-lhe um arreio de cavalo, um freio ferrugento, em que ela agarrou e ficou a pensar “a qual dos meus antepassados terá pertencido esta coisa?”. Com efeito, se estava no terreno dela, pode-se dizer que de certeza era coisa de um dos avós MacKenzie (ou do cavalo do MacKenzie, mais exactamente) que por ali andaram a cultivar as suas batatinhas naquele mesmo chão. Esta ligação telúrica, esta identificação entre terra e gente, dá a este pessoal a certeza do “eu pertenço aqui”, um absoluto conforto moral, meio caminho para aceitarem os limites acanhaditos desta ilha sem qualquer problema. As famílias que até agora conheci estão cá pelo menos desde o século XVII, a cultivar os mesmos terrenos que os avós cultivaram, praticamente com as mesmas famílias como vizinhas, o que automaticamente prolonga o mesmo círculo de amigos através das sucessivas gerações. O vizinho do lado é o neto do vizinho do avô, tudo é seguro, partilhado e conhecido desde o tempo dos MacAfonsinhos.
Como consequência, quem vem de fora com propósitos de se instalar fica logo debaixo d’olho. Ninguém lhes conhece a família, ninguém os viu crescer, portanto, ou provam logo à partida que são boa gente, fazem amizades e procuram integrar-se, ou então ficam irremediavelmente condenados ao ostracismo e vão-se ver à rasca para conseguirem ter uma vida normal. Os ilhéus são boa gente, não me interpretem mal, mas uma comunidade pequena torna-se facilmente desconfiada em relação a estranhos, e se eu tenho conseguido entrar em todo o lado e ser bem recebida é porque, basicamente, eles são naturalmente hospitaleiros e eu tenho cara de menina séria (um tanto excêntrica, é um facto, mas como sou estrangeira tenho direito a desconto), mas se fosse um matulão mal encarado ou tivesse ar de quem andava a atacar no Intendente, estava lixada logo à partida.
De certa maneira, têm tido muitas razões para ser desconfiados. Ainda que nunca tenha havido nenhum problema, as Hébridas têm sido usadas como refúgio para os programas de protecção a testemunhas e outro pessoal que precisa de desaparecer; mudam-lhes o nome, inventam-lhes uma história e mandam-nos para cá para recomeçarem a vida. Erro crasso, porque os nativos já os topam à légua e por muito boas pessoas que sejam, toda a gente foge deles. Normalmente as casas entram em obras antes destas famílias se mudarem, para instalar portas blindadas, vidros especiais e reforçar paredes (que as interiores são normalmente uma bela bodega, feitas com uma matéria plástica que se parte facilmente a pontapé, mesmo sem metade do caparro do Schwarznegger). Ora como os pedreiros são recrutados na ilha, o tal programa de protecção vai logo por água abaixo (...bom, se fossem pedreiros de fora também iam levantar suspeitas). Sabendo-se que o próximo habitante tem alguém atrás dele com ganas de lhe dar cabo do canastro, claro que ninguém quer estar por perto quando isso acontecer. Pode não ser justo para quem já tem problemas de sobra, mas é uma reacção natural.
Ainda por cima, nestes últimos dias, Stornoway tem estado em destaque pelos piores motivos – prenderam um bando de tarados que molestou três miudinhas daqui, o que tem deixado toda a gente agarrada aos noticiários. O que incomoda mais os indígenas (além do crime, claro) é estarem só a divulgar que os pedófilos são habitantes da ilha, sem nunca referirem que nenhum deles é natural daqui. É tudo pessoal que veio de fora e que se tinha instalado há pouco tempo a norte de Lewis.
Depois disto, começa-se a falar em fazer petições para a câmara de Stornoway passar a proibir a instalação de gente com passados suspeitos – e a suspeita pode ser apenas o facto de ser alguém que tenha mudado meia dúzia de vezes de morada durante os últimos anos, como quem anda a fugir de alguma coisa. As vizinhanças estão já a escolher representantes da comunidade e a planear recolhas de assinaturas. Aparentemente não tarda muito para Stornoway estar novamente nos noticiários, desta vez com manifestações anti-estranhos à porta da Câmara Municipal. Brrrr...
Portanto, se alguém por aí está com ideias de vir pra cá, que trate de arranjar um curriculum perfeitinho, com muitas recomendações em anexo, passe um pente no cabelo, vista-se decentemente e vá à missa logo desde o primeiro domingo, senão arrisca-se a ser deportado para a mainland no primeiro ferry boat.
29.8.07
11.8.07
Postais à família - 1 (para a tia do ermita)
Stornoway - postal de James Smith
Por aqui tudo Ok. Isto é a cidade onde eu estou, que vista assim parece muito grande, mas deve ser pouco maior do que a Lourinhã (6000 habitantes). O resto é campo sem árvores, só pasto e ovelhas.
Highlan Cow - postal de Colin Baxter
Aqui vai ele, o autêntico escocês das ilhas, matulão, loirinho e cabeludo, muito mais lindo que os de duas pernas (cada canastrão...). Segundo a menina que me vendeu o postal, este aqui deve ter sido lavado e penteadinho para tirar o retrato, que eles ao vivo são mais encaracoladinhos. Será que também lhe fizeram um brushing? Muuuuuú!
Lamb - postal de Normal MacSween
Ok, o animal tem cornos mas dá lã. é com esta raça de ovelhas (Scottish Black Face) que fabricam o tweed. Portanto, se é uma ovelha com cornos ou uma cabra que dá lã, decidam vocês que pró efeito é igual ao litro.
Sheep shearing - postal de Charles Tait
Eu comi um destes! ...enfim, só uma coxinha, que o bicho é muito caro e não quis abusar da oferta da dona da casa; só havia um e tinha de dar para duas pessoas. A maior parte do pessoal torce o nariz, mas para os outros é uma especialidade (como gostar de queijo Rockfort - miam!); é muito salgado e com um gosto muito activo. Como a população destes passarocos estava a diminuir, a caça é limitada, dependendo da quantidade de ninhos de cada ano (mas não faço ideia como é que os contam - de helicóptero? por satélite?). Quando vi o postal perguntei à Marisa se era isto que nós tínhamos comido. Como ela sabe que eu gosto muito de bichinhos disse logo "ah, mas o que nós comemos era muito feio, não era assim bonito como esse..." Desatei-me a rir e lembrei-me de ti, de quando eu vi a travessa das lulas grelhadas à frente e fiquei com dúvidas se elas seriam inteligentes como os polvos, e tu disseste "não não, essas aí eram estúpidas que nem uma porta..."
Crónica das Hébridas - 7
| Eu caída de paraquedas no concerto de um tal Mick Flavin, um irlandês muito alto com um vozeirão de baixo que chega pra sete, quanto mais pra uma salita pequena como esta da Legion (Royal British Legion). Ao vivo não é tão canastrão como nos cartazes que andaram a espalhar pelas montras, mas quando o vi aparecer no palco com um colete de cetim preto bordado a lantejoulas douradas, com um cavalinho de um lado e uma ferradura do outro, temi bastante pelo serão. Mas a seguir o homem abriu as goelas e então percebi que, quando se tem uma voz assim, até se lhe perdoam as lantejoulas. Também podia ter aparecido de boné, jardineira e enxada ao ombro, que a fatiota torna-se irrelevante em menos de nada. Aleluia. E afinal eu até gosto de música country, não assim em dose maciça, é um facto, que duas horas disto é de empanturrar, até porque ao fim de três ou quatro cantigas já não se conseguem distinguir umas das outras – soa tudo ao mesmo – mas o pessoal está entusiasmadíssimo com o irlandês das latejoulas. Por aqui, na rádio, nos CDs que trazem para o serviço e nas cassetes que põem no carro, ou tocam música gaélica ou country. É evidente a semelhança entre as duas. Não com aquela música das gaitas de foles, que sempre me pôs os genes todos aos saltos, mas com a música gaélica cantada, com ou sem instrumentos a acompanhar (esta especialmente apreciada pelos indígenas, pra quem um cantor a sério tem de conseguir cantar sem música), bem mais popular por aqui do que as gaitas, só usadas para ocasiões especiais. São músicas agradáveis mas um tanto chatas, demasiado compridas e repetitivas. Mas percebo porque é que o country também abana a genética toda deste pessoal. O country é a música dos emigrantes, dos escoceses e dos irlandeses que tiveram de fugir daqui nos anos de penúria e levaram os sons da terrinha lá para as américas. Os temas são as saudades da casa e da família (e então passam a vida a dar-lhe com o “take me home” e o “take me back” – devem estar à espera de boleia) das miúdas lá da terra, da paisagem, enfim, é saudades e pouco mais – música de emigrantes já diz quase tudo. E antes country do que pimbas… Quando chegámos já estava tudo cheio, mas a Moira disse logo “eu cá atrás não fico”, mesmo quando eu já estava a tentar gamar uma mesa reservada (era só mudá-la de sítio) pra não ficarmos em pé. E então, ela começou a ver quem estava, quem é que podia desenrascar, meteu-se pelo meio da maralha e quando voltou já tinha conseguido arranjar-nos três cadeiras na segunda fila da frente, não faço ideia como (somos três, que a Norag – Nora prós amigos – também veio; deveríamos ser quatro, mas o marido dela deixou-nos à porta e fugiu). A primeira parte do concerto foi uma desgraça para aguentar aqui sentada, não pela música mas pelas ideias frescas da Moira – “levamos já duas bebidas cada uma, que assim não precisamos de interromper para vir buscar mais…” – argumento copófonico que me convenceu a trazer dois “half pints” de cerveja para o lugar, mas claro que ao intervalo já ‘távamos todas à rasquinha pra despejar. À saída da casa de banho cruzámo-nos com o teclista do grupo, que a Moira tratou logo de convidar pra vir encher os canecos connosco. E alguém já viu um irlandês a recusar um copo? Eu também não. Conversa puxa conversa e mais conversadores, e dali a pouco juntou-se-nos o baterista. O primeiro, o das teclas, tinha um inglês que se entendia perfeitamente; falei-lhe das minhas visitas aos calhaus e ele falou-me de túmulos e pedregulhos e druidas, e eu até achei que ele tinha um sotaque castiço que se entendia perfeitamente, agora o fulano dos tambores, caneco, teve de me repetir tudo devagarinho, que o tal sotaque castiço deve ser de outra região, tão cerrado que não se consegue entender duas seguidas – mesmo assim ainda deu pra perceber que pelos vistos eu posso vir ao bailarico de amanhã mesmo sem ter bilhete, que o moço promete que me faz entrar pelos bastidores. Até que é engraçadinho, mas eu não ‘tou inclinada pra engates e acho que não me apetece passar a noite a dizer “hã?!”, ainda por cima com alguém que começou logo da melhor maneira: “Lisboa…? Ah, na Austrália, claro.” Claríssimo. A farra continuou pelo fim de semana, com uma data de malta abancada em casa da Marisa, a enfiar copos atrás uns dos outros até saírem de gatas, e nisso e em muita coisa são iguaizinhos a nós, provavelmente porque o bicho gente é todo igual no que toca a copos e festarolas privadas. Talvez menos comezaina do que é costume nas da minha terra, sobretudo porque só eu é que me lembrei que deveria haver uma sobremesa (o resto era tudo comida a sério para enfardar bem) e decidi fazer uma tigelada de baba de camelo. E então, em vez de a pôr na mesa, à disposição de quem quisesse, a Marisa resolveu agarrar na tigela e dar uma colher de sopa a cada um, para provarem primeiro, a ver quem ia querer mais. Tudo bem, salvo o facto de que a colher era uma só, lambida e relambida por alguns 20; em vez de baba de camelo, ficámos com cuspo de convidado, mas aparentemente toda a gente achou isto perfeitamente normal. No geral foi uma noite divertida, em que até fizeram um concurso para ver quem tinha as mamas maiores (ganhou a Moira) e acabámos com umas guitarradas do Murdo (Murdigan para os amigos) e o pessoal todo em coro a assassinar as cantigas, enquanto os mais fracotes curtiam a buba nos sofás novos da Marisa. O trivial. A olhar para o jornal, dei-me conta de que as fotografias do pessoal que se casou e dos moços que acabaram o curso, além dos nomes trazem também as moradas, com rua e número de porta, assim mesmo, todas escarrapachadinhas, com certeza para o caso de alguém lhes querer dar os parabéns pessoalmente. Pensei que fosse coisa das famílias, para ninguém ter dúvidas de que é mesmo o filhinho deles que aparece na página social, com um chapéu esquisito e canudo na mão, mas afinal parece que é pecha dos jornalistas, porque as moradas continuam a aparecer no resto das notícias. Como a de um puto que se enfrascou até correrem com ele do bar, por já estar a fazer muitas ondas, e resolveu ir dar uma voltinha para espairecer, com o primeiro carro aberto que encontrou (ao que parece, com chave e tudo). Daí a nada já tinha a bófia toda atrás dele, com certeza entusiasmadíssima por finalmente haver alguma coisa para fazer nesta ilha, até que o puto acabou por se enfiar numa cerca de arame, deitou os postes abaixo, pregou um cagaço medonho nas ovelhinhas e foi agarrado. Pois além de seis meses sem carta, uma multa das gordas e ano e meio de cana por andar por aí a causar distúrbios (já agora, pra que é que se deram ao trabalho de lhe apreender a carta…?), ainda lhe publicam o nome e a morada, talvez para o caso de algum dos lesados lá querer ir tirar satisfações com ele. A não ser que os nomes que aparecem no jornal não sejam exactamente os originais, e não falo de pseudónimos, mas em combinações e abreviaturas, porque pelos vistos é normalíssimo o pessoal assinar com nomes inventados; até agora eu estava convencida que Chrisella e Marisa eram os nomes reais das minhas colegas, pelo menos é assim que elas se apresentam e assinam as cartas do escritório, mas afinal uma chama-se Christina Annabella e a outra Mary Ishbel. Abreviaram os dois, juntaram e pronto, passou a ser uma espécie de nome público. Há que concordar que é prático… e na nossa terrinha ia até resolver algumas frustrações, em casos como, por exemplo, uma Andreia Vanessa poder passar a ser Andressa ou Dreiva, ou mesmo Cátia Susana se fizesse muita questão, sem ninguém lhe levantar problemas legais por causa disso. E então, retomando o tema da minha primeira crónica e dos meus preconceitos quanto aos ilhéus, parece-me que afinal quem está com problemas de insularidade sou eu. Ao fim de uns tempos a esbarrar com a costa a cada esquina, começo a ter a sensação de estar aqui encurralada. Isto pode parecer muito esquisito, tendo em conta que na cidade eu normalmente não ando mais do que dois quarteirões até ao comboio e que a maior parte dos meus fins de semana são passados em casa, entre as escovadelas no gato e a jogatana no computador, por falta de pachorra para saídas e noitadas. Aqui, talvez pela minha condição de estrangeira num sítio novo, a percepção do espaço ficou muito mais desperta, e isso faz-me também ter mais consciência dos limites. Porque mesmo no meu apartamentinho T1 com vista para as traseiras, ensanduichada entre dois andares, eu sei que é só pegar no carro e desatar a andar para poder chegar até à Sibéria, se me der na gana, assim haja gasolina e camisolas suficientes; na ilha tenho duas margens a 20 minutos uma da outra e campos vazios no meio. É bonito, pois, é uma paisagem praticamente minimalista, quase um deserto, e eu até sempre fui um daqueles que vivem numa cidade mas passam a vida a sonhar com os desertos, com espaços abertos sem nada a atrapalhar, onde se pode voltar às origens e resgatar o selvagem que volta e meia desata aos pulos cá por baixo da civilização toda que se carrega às costas, mas afinal, como qualquer outra treta pseudo-filosófica, esbarro com o mar e desejo uma ponte, um ferry barato (o preço é um susto), qualquer hipótese de fuga fácil, porque o que me incomoda não é o tamanho do espaço onde eu vivo, mas a falta de hipóteses de poder alargar os horizontes. Já percebi que não aguento uma prisão por muito tempo, nem que ela tenha o tamanho de uma ilha. Passada a novidade, começo a ficar um tanto sufocada, a desejar terra firme, terra grande, com montes de espaço pra fugir.Um dia destes, em vez da Crónica das Hébridas, acho que vou estar a fazer a Crónica de Cascos de Rolha, onde pelo menos um dos horizontes tenha muito chão pra pisar. |
Subscrever:
Comentários (Atom)